Assine a revista National Geographic agora por apenas 1€ por mês.
A diabetes tipo 2 representa quase 90 por cento dos aproximadamente 643 milhões de casos de diabetes em todo o mundo. Este número, que triplicou nos últimos 25 anos, tem vindo a aumentar de forma particularmente preocupante em crianças e jovens adultos. Além disso, as estimativas apontam para que cerca de 250 milhões de pessoas possam não saber que padecem da doença, elevando a percentagem de pessoas com diabetes tipo 2 a quase uma em cada 10.
Por conseguinte, a diabetes é uma das doenças mais prevalecentes entre a população e existe um conjunto de factores que pode desencadeá-la. Alguns deles, como o envelhecimento, são inevitáveis, mas é possível mitigar os riscos daqueles relacionados com o estilo de vida sedentário e a alimentação.
Contudo, há que ter em conta que mitigar os riscos não significa eliminá-los por completo. Esse é um dos desafios de centenas de grupos de investigação espalhados por todo o mundo que estão a desbravar os meandros moleculares que levam à falta de produção de insulina no organismo. Na diabetes tipo 2, a diminuição dos níveis de insulina está normalmente associada à perda de um grupo de células que se encontram no pâncreas, denominadas células β-pancreáticas. A falta de insulina daí resultante faz com que, após as refeições, os níveis de açúcar no sangue aumentem e com eles a viscosidade do sangue, dando lugar aos sintomas mais comuns.
Porque desaparecem estas células?
Na primeira fase da diabetes tipo 2, o organismo torna-se resistente à sua própria insulina. Devido a esta resistência, as células musculares, as células gordas (adipócitos) e as células hepáticas não retiram a glucose do sangue de forma eficiente, fazendo com que haja muito mais glucose no sangue que deveria. As células β-pancreáticas tentam compensar produzindo cada vez mais insulina, para que continue a fazer efeito, e activam ao máximo o seu metabolismo. Ao tornarem-se cada vez mais activas, as células “cansam-se” (perdem a sua capacidade de produzir insulina) e o pâncreas perde gradualmente esta função.
Nesta fase tardia, quase se poderia dizer que as células β-pancreáticas se esquecem do trabalho que deveriam fazer e começam a comportar-se como um outro tipo de células pancreáticas, as células α-pancreáticas. Ao contrário das células beta, as células alfa produzem uma molécula antagonista da insulina chamada glucagon, que se encarrega, precisamente, de mobilizar as gorduras a fim de aumentar ainda mais os níveis de açúcar no sangue.
Tanto as células alfa como as células beta agrupam-se normalmente numas estruturas densas chamadas ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans. Além das células alfa e beta, estas ilhotas pancreáticas também podem conter células delta, gama, células g e células épsilon, que libertam outras hormonas importantes para a alimentação como a grelina, que gera a sensação de saciedade. Segundo um estudo recentemente realizado pelo centro de investigação City of Hope, em Los Angeles, o destino destas ilhotas poderia ser controlado por um gene denominado SMOC1, embora ainda seja necessário realizar mais testes para comprovar exactamente como funciona.
O autor principal do estudo, Adolfo García-Ocaña explica as suas descobertas da seguinte forma: “Em pessoas saudáveis, as células das ilhotas podem amadurecer em diferentes direcções. Algumas tornam-se mais parecidas com as células alfa, outras com as células beta, outras seguem o seu próprio caminho, mas, na diabetes tipo 2, todas acabam por se tornar alfa”. Geming Lu, co-autor do estudo, acrescenta: “Normalmente, o SMOC1 está activo nas células alfa das pessoas saudáveis, mas vimos que também começava a aparecer nas células beta das pessoas diabéticas, onde não deveria”.
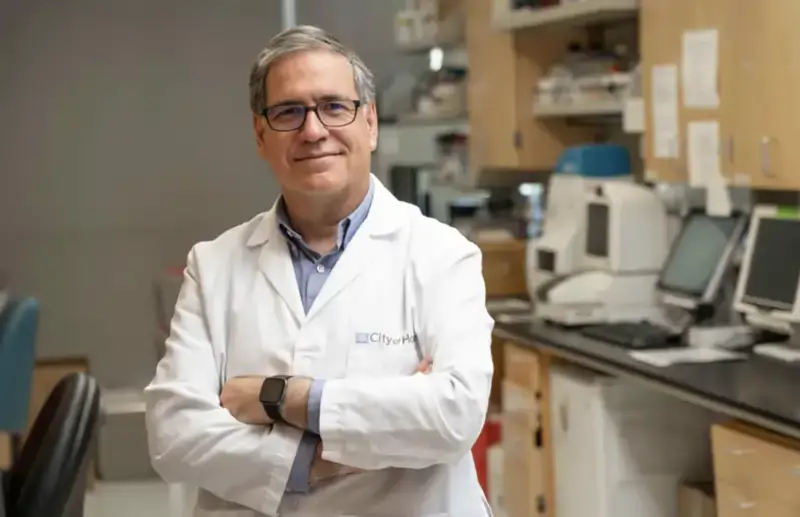 CITY OF HOPE
CITY OF HOPE
Adolfo García-Ocaña no seu laboratorio.
Graças a estas descobertas, os autores esperam elaborar novas terapias baseadas no bloqueio do SMOC1 que permitam atrasar ou bloquear o aparecimento da doença. Além disso, a análise deste e outros genes envolvidos na doença poderá abrir a porta a terapias regenerativas e auto-transplantes que permitam libertar as pessoas diabéticas da sua dependência de insulina externa.
Atrasar ao máximo o aparecimento
De momento, atrasar o aparecimento da diabetes só é possível através da mitigação dos seus sintomas, como referimos no início deste artigo. Isso é de facto essencial, mas outro estudo, liderado pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, observou que as pessoas diagnosticadas com diabetes antes dos 30 anos poderiam ter uma esperança de vida até 13 anos inferior às pessoas saudáveis da população dos EUA, ou 13 anos no caso da Europa. Em contrapartida, se os sintomas aparecessem entre os 40 e os 50 anos a esperança de vida só diminuía 9 ou 5 anos em média, respectivamente.
Perante esta situação alarmante, o professor Emanuele Di Angelantonio, do VPD-HLRI da Universidade de Cambridge, afirma: “A diabetes tipo 2 costumava ser considerada uma doença que afectava os adultos mais velhos, mas estamos a assistir a um número cada vez maior de diagnósticos em pessoas mais novas. Como demonstrámos, isto significa que correm o risco de ter uma esperança de vida muito mais curta do que teriam noutras circunstâncias.”
Por isso, Stephen Kaptoge, também do VPD-HLRI, disse que, “dado o impacto da diabetes tipo 2 na vida das pessoas, prevenir – ou pelo menos atrasar o aparecimento – da doença deverá ser uma prioridade urgente”. Por outras palavras, os especialistas estão a focar-se na educação e na prevenção, sobretudo dos mais jovens.
Além disso, um diagnóstico precoce também pode estar associado a uma melhor gestão da glucose, algo que acaba por reduzir os danos acumulados no organismo, permitindo consequentemente aumentar a esperança de vida. É, sem dúvida, uma esperança para as quase uma em cada 10 pessoas que padecem desta doença em todo o mundo.
