Por MARILENA CHAUI*
Prefácio do livro póstumo de Gerd Bornheim, recém-lançado.
Gerd Bornheim, filósofo da liberdade
Esta coletânea dos ensaios de Gerd Borheim trazem no título filosofia. Nada mais adequado. Com efeito, os ensaios percorrem sempre as questões fundamentais do pensar filosófico para descortinar o sentido ou a prosa do mundo: o que é? (o ser), por que é (a gênese e o devir), como é? (as conexões necessárias, possíveis ou contingentes), para que/para quem é? (a finalidade), contra o que/contra quem é? (a negação, a oposição, a contradição e sobretudo as antinomias).
É, pois como questão filosófica que Gerd Bornheim se acerca do segundo tema do título, política. Nada mais significativo que o grande ensaio sobre “As medidas da liberdade” se inicie com Platão e Aristóteles e termine em Marx.
A laboriosa e precisa apresentação deste livro feita por Gaspar Paz e Tayanã Targa dispensa um prefácio que abarque todos os temas desenvolvidos por Gerd Bornheim. Por isso, aqui, me voltarei muito brevemente para uma questão que ocupou o autor desde seus inícios: a da liberdade.
1.
É instigante que Gerd Bornheim intitule seu ensaio “As medidas da liberdade”. Por que instigante? Por que temos a tendência a considerar que a liberdade é imensurável. Pelo contrário, enfatizando a ideia de antinomia (portanto de uma oposição que não se resolve nunca em contraposição à apaziguadora contradição hegeliana), Gerd Bornheim examina a liberdade em sua relação permanente e inarredável com a não-liberdade, que lhe impõe medidas (biológicas, psicológicas e sociológicas).
Esse percurso se inicia com a referência aos filósofos gregos que, apesar da democracia e dos escritos ético-políticos, nunca se interessaram pela liberdade como questão, bastando lembrar que a pergunta socrática “o que é?”, nunca levou a um diálogo platônico sobre ela e que Aristóteles lhe dedicou apenas um pequeno parágrafo.
Em contrapartida, tudo muda de figura com advento do cristianismo e suas marcas principais: o vínculo entre o livre-arbítrio e o pecado original (levando à ideia de servo-arbítrio) e a teologia da predestinação. Esta última é, portanto, a invenção da primeira medida limitadora da liberdade.
Ora, explica Gerd Bornheim, eis o problema que René Descartes deverá enfrentar, uma vez que afirma a liberdade ser evidente, que somos senhores de nossa ação e que nossa perfeição está em dispor do livre-arbítrio. Eis porque, embora aceite a teologia da predestinação, recomenda que se tome distância com relação a ela. Assim, por ser infinita (e não ser má ou serva), a vontade livre, lemos na “Quarta Meditação”, se precipita e causa o erro; no entanto é por livre vontade que o pensamento institui a dúvida metódica, conduzindo ao conhecimento verdadeiro, e é por livre vontade, lemos nas Paixões da Alma, que podemos dominar as paixões.
Com René Descartes, escreve Gerd Bornheim, nascem a autonomia do indivíduo, o advento da nova filosofia e da nova ciência, a ideia de soberania individual e, numa palavra, o individualismo moderno.
Todavia, a teologia da predestinação encontra um caminho para reaparecer como algo laico: ressurge na antinomia kantiana entre necessidade e liberdade. Eis o aparecimento de uma nova medida.
Apesar do “Eu puro” de Fichte e do percurso da eticidade hegeliana, a antinomia se torna insuperável quando uma nova laicização da predestinação encontra um novo caminho com a biologia, a psicologia, a história e a sociologia e, mais adiante, a psicanálise. Surgem, portanto, novas medidas.
Ora, o que é fascinante no ensaio de Gerd Bornheim é o lugar onde ele situa uma nova relação da liberdade com as medidas da não-liberdade: em lugar de situá-la na filosofia, ele a situa na obra de Friedrich Schiller e, particularmente, nas Cartas sobre a educação estética do homem e no emprego do verbo alemão spielen (jogar, brincar, tocar um instrumento musical, interpretação teatral de um papel, praticar um esporte, brincadeiras infantis) em que, apesar do rigor das normas, regras ou medidas respeitadas por todos, introduz a espontaneidade e a criatividade individual do agente, como se vê não apenas nas artes, mas também nos tribunais, nas assembleias políticas e nos jogos esportivos.
Essa ideia, que Gerd Bornheim mostra estar presente em Bertold Brecht, o leva ás análises de Karl Marx sobre a criatividade do trabalho, impedida pelo capitalismo e pela linha de montagem sob a vigilância taylorista, mas capaz de plenitude no comunismo.
A antinomia contemporânea se encontra no fato de que vivemos sob a contraposição entre duas ideias da liberdade: de um lado, as medidas do livre-arbítrio cartesiano, da autonomia kantiana e da “impertinência satriana” (“estamos condenados à liberdade”) e de outro, o desejo de transgredir todas as medidas.
Eis por que Gerd conclui o ensaio escrevendo: “Sonhe-se, pois, na espera de um novo Schiller”.
2.
Gostaria de concluir com algumas reflexões sobre outros textos[i] de Gerd sobre o surgimento da ética na modernidade e sobre as antinomias contemporâneas entre duas experiências da liberdade porque permitem uma compreensão alargada do ensaio sobre “As medidas da liberdade”.
É interessante observar que, nesses textos, Gerd Bornheim não toma Kant como referência principal e sim René Descartes. De fato, como para ele o nascimento da ética moderna depende do surgimento da ideia de indivíduo autônomo, é no cogito cartesiano que ele encontra esse momento inaugural e isso sob dois aspectos principais: no da experiência absoluta da subjetividade antes da experiência do absoluto, isto é, de Deus, e, em segundo lugar, no da nova ideia da liberdade como livre-arbítrio.
De fato, a referência prioritária a Descartes torna-se compreensível se nos lembrarmos de que, ao caracterizar a ética, Gerd Bornheim enfatiza a relação entre a particularidade do indivíduo e a universalidade da norma, pois sem a universalidade não pode haver normatividade. A tensão entre o singular espaço-temporal, que é o indivíduo, e o universal, que transcende o espaço e o tempo, sempre foi contornada pela atribuição de uma origem sagrada à norma.
Eis porque a norma deve ser posta como algo que transcende o espaço e o tempo e que seu fundamento deva ser encontrado num universal concreto, qual seja, a divindade, única fonte possível de estabilidade, necessidade e perenidade da norma. Ora, com René Descartes a referência da norma a Deus tende a minimizar-se e quase desaparecer, pois a experiência do cogito é uma experiência absoluta do sujeito antes de sua relação com Deus e nela se afirma pela primeira vez a autonomia do indivíduo.
Por outro lado e como consequência, Descartes também será o primeiro, no mundo cristão, a definir a liberdade pelo livre-arbítrio da vontade e, portanto, pelo poder infinito de decisão que faz do homem senhor de si e senhor da natureza. Isso significa que, a partir de René Descartes, a norma (mesmo que referida em última instância a Deus) terá que encontrar na finitude do homem sua garantia única e pode fazê-lo porque a liberdade da vontade define o homem pela autonomia e, portanto, pelo poder de dar a si mesmo a universalidade da norma. Na interpretação de Gerd Bornheim, caberá a Kant concluir esse processo, cujo princípio é cartesiano.
O sujeito cartesiano, insiste Gerd Bornheim, é historicamente determinado. Em outras palavras, o cogito e o livre arbítrio da vontade, que afirmam a autonomia do indivíduo, só são possíveis no interior de um acontecimento histórico: o “projeto burguês”. Desse projeto, Gerd Bornheim oferece as principais características.
Em primeiro lugar, trata-se do advento da ideia de autonomia do sujeito de que o cogito cartesiano é uma das expressões, duas outras podendo ser encontradas no surgimento do retrato, na pintura, e na mudança da forma e do conteúdo da biografia, na literatura. A autonomia do sujeito pressupõe o surgimento do indivíduo e é este que faz sua aparição na pintura e na literatura. Até o início da modernidade, a pintura pintava universais, isto é, pintava tipos; a partir da modernidade, pinta indivíduos singulares concretos, retratos.
Até o início da modernidade, as biografias – vidas de santos e de grandes homens, à maneira de Agostinho e de Plutarco – narravam itinerários exemplares e não os percalços, as aventuras e desventuras de algum indivíduo, mas é exatamente isso que agora é narrado e, sob essa perspectiva, Descartes também é exemplar com a abertura do Discurso do Método. Escreve Gerd Bornheim: “o individualismo funciona como uma espécie de a priori, como pressuposto maior que oxigenaria o projeto burguês”.[ii]
Em segundo lugar, a modernidade dá início à valorização do trabalho como condição da constituição da personalidade. Em terceiro lugar, põe como fundamento do indivíduo e do trabalho a propriedade privada e, portanto, em quarto lugar, o capitalismo.
Esses dados históricos, por sua vez determinam dois outros, que formam as duas últimas características apontadas por Gerd Bornheim, quais sejam, o novo sentido dado ao conhecimento humano – isto é, o advento do sujeito do conhecimento como fundamento do objeto do conhecimento e o advento da tecnologia ou da manipulação prática do objeto do conhecimento – e, finalmente, a concepção cartesiana da liberdade como independência e autonomia.
Com esses elementos, Gerd Bornheim pode salientar um outro aspecto da modernidade ou do “projeto burguês”, qual seja, o efeito do ateísmo. De fato, o que o cogito e a liberdade cartesianos anunciam é a possibilidade de conceber o indivíduo, sua ação e as normas sem referência a um fundamento divino. Esse abandono do fundamento divino da norma aparece com clareza na concepção moderna do advento da vida política a partir de uma decisão humana, isto é, com o contrato social.
3.
Temos, assim, o quadro histórico que nos permite compreender porque, ao fim e ao cabo do processo, Kant só poderia recuperar a universalidade da norma atribuindo-a à autonomia do sujeito moral, mas esvaziando-a de todo conteúdo para deixá-la exprimir-se como pura forma.
A partir de Kant, compreende-se também que Hegel só pudesse expor a eticidade como movimento que vai da bela totalidade ética – plena identidade entre a singularidade do indivíduo e a universalidade da norma – à contradição moderna entre a particularidade do indivíduo e a universalidade da norma quando esta é dotada de conteúdo histórico, contradição que só poderá ser hegelianamente resolvida pela universalidade concreta do Estado.
Se seguirmos as indicações de Gerd Bornheim, podemos dizer que a ética procura definir antes de tudo a figura do agente ético e de suas ações bem como o conjunto normas que balizam o campo de uma ação que se considere ética. A partir da modernidade, o agente ético é pensado como sujeito ético, isto é, como um indivíduo racional e consciente que sabe o que faz, como um indivíduo dotado de livre arbítrio que decide e escolhe o que faz, e como um indivíduo responsável que responde pelo que faz.
A ação ética é balizada pelas normas que permitem a diferenciação do bem e do mal, do justo e do injusto, da virtude e do vício. Assim, uma ação só será ética se for consciente, livre e responsável e será virtuosa se for realizada em conformidade com o bom e o justo. Por seu turno, a ação ética só será virtuosa se for livre e só será livre se for autônoma, isto é, se resultar de uma decisão interior do próprio agente e não de uma pressão externa.
Enfim, a ação só será ética se realizar a natureza racional, livre e responsável do agente e se este respeitar a racionalidade, liberdade e responsabilidade dos outros agentes, de sorte que a subjetividade ética só pode ser concebida como intersubjetividade.
Evidentemente, como salienta Gerd Bornheim, a ética precisa lidar com a tensão entre o sujeito e a norma, isto é, a exigência de autonomia do sujeito ético pode estar em conflito com a heteronomia que lhe é imposta pelas normas de sua sociedade.
Para que não haja tal conflito será preciso, à maneira kantiana, afirmar que o agente reconhece as normas de sua sociedade como se tivessem sido instituídas por ele próprio enquanto sujeito universal autônomo, pois terá dado a si mesmo sua própria lei de ação. Em outras palavras, a tensão só pode ser resolvida por meio da distinção entre os valores instituídos por uma sociedade e a vontade moral livre a qual não se guia por tais valores particulares e sim por leis e máximas universais, válidas para todo ser racional, uma vez que são instituídas pela razão humana enquanto faculdade prática universal que legisla moralmente para toda a humanidade.
Uma vez que leis e máximas morais nascem da própria razão, todo sujeito moral pode reconhecer-se como autor delas e, enquanto tal, é autônomo. Graças, aliás, a essa universalidade e autonomia, o sujeito moral pode julgar os valores de sua sociedade para determinar quais são éticos (concordam com a razão prática universal) e quais não o são e devem ser rejeitados.
4.
É esse mesmo conflito entre sujeito e sociedade que Jean-Paul Sartre tematiza de maneira radical na peça teatral A portas fechadas. A ontologia sartriana[iii] funda-se na cisão entre o ser (as coisas, o mundo, os objetos) e o nada (a consciência como pura atividade livre), de tal maneira que aquele que invoca razões e motivos (econômicos, sociais, políticos, religiosos, psicológicos) que o impediriam de ser livre, simplesmente usa de má-fé, pois a liberdade é a definição mesma da essência da consciência.
Ora, em A portas fechadas, a liberdade ou a autonomia de cada um é destruída pelo olhar dos outros, perante os quais cada um perde a condição de sujeito e se torna um objeto – cada consciência só pode perceber o outro não como consciência e liberdade, mas como uma coisa no mundo. Donde a expressão célebre: “o inferno são os outros”.
A reflexão sobre a norma, conduz Gerd a uma pergunta precisa. Perante a formalização kantiana, indaga: “O que passa a interessar é a responsabilidade autônoma de cada indivíduo. A soberania da norma, agora totalmente formalizada, nem consegue mais entrar em conflito com a soberania do indivíduo autônomo, tudo dependerá do íntimo de sua consciência; a norma se restringe assim ao ato de cada indivíduo ter de assumir a sua responsabilidade universal. (…). Não obstante a bem-sucedida formalização kantiana é pertinente que se pergunte: cabe falar em uma ética destituída de normatividade, alheia ao dever-ser dos velhos valores objetivos?”.[iv]
A resposta de Gerd Bornheim será negativa, mas de maneira surpreendente e muito original. Meditando sobre a história da arte, observa que a norma estética passou por uma história bastante semelhante à da norma ética. Havia, antes da modernidade, a norma absoluta, referida à beleza das coisas absolutas e que fazia da arte a manifestação do esplendor da verdade divina.
A modernidade, porém, introduziu regras racionais estáveis que passaram a nortear a obra de arte sem a referência ao absoluto e ao divino. E, no século XX, desapareceu a própria idéia de uma estética normativa, pois a única norma para a arte tornou-se a “criatividade do artista”. A estética normativa e transcendente cedeu lugar a uma estética imanente ao ato artístico (aquela de Schiller, apresentada em “As medidas da liberdade”). O mesmo poderia ser dito no caso da ética.
Escreve Gerd Bornheim: “A criatividade transfere-se agora para o campo da ação moral do indivíduo, e transforma-se então em responsabilidade. Deixo claro: a criação estaria para a obra de arte assim como a responsabilidade estaria para a ação moral. Neste ponto, Sartre foi sem dúvida o filósofo mais contundente. Se Deus existe, diz ele luteranamente, o homem perde a sua liberdade. Como Deus não existe, conclui ele satrianamente, o homem não só é livre como deve assumir sua liberdade absoluta. E acrescento: liberdade absoluta quer dizer antes de tudo responsabilidade absoluta. Por aí a norma desfalece em sua própria razão de ser. Assim mesmo, continua de pé (…) a questão dos limites de tal responsabilidade, de sua possível extensão – extensão no sentido mais preciso da palavra: o geográfico e o histórico”.[v]
Onde se encontra o radicalismo de Jean-Paul Sartre? Responde Gerd Bornheim: em ter coroado o “projeto burguês” e levado às últimas conseqüências a tese cartesiana da autonomia do sujeito. Ora, isso significa, de um lado, que nele encontramos uma meditação radical sobre a liberdade entendida como liberação do homem, mas também, de outro, que ele aponta “para a gravidade da crise dentro da qual nos movemos”.
Qual é a crise em que nos movemos? “Realmente, ter-se-ia de perguntar o que é feito hoje daquela esplêndida autonomia. Porque o trabalho se robotiza, o capitalismo se batiza de selvagem, a liberdade tropeça em seu próprio absurdo, e por aí afora”.[vi]
Reencontramos, assim, “As medidas da liberdade”, quando Gerd Bornheim indaga: como continuar afirmando a autonomia e a responsabilidade absoluta do sujeito depois da descoberta do inconsciente por Freud? Como manter a distinção kantiana do homem como ser sensível e supra-sensível depois da biologia genética?
Como, depois de Marx, esquecer a determinação econômica, social e histórica da ação dos homens? Como esquecer que a primeira apresentação da intersubjetividade feita na filosofia é a dialética hegeliana do senhor e do escravo e a luta mortal das consciências?
Na verdade, diz Gerd Bornheim, o homem contemporâneo se vê às voltas com duas concepções contraditórias da liberdade: “Pois, de um lado, o homem moderno vive a liberdade como forma da experiência absoluta: ele se faz um ser autônomo, independente e a liberdade lhe pertence como um bem maior. (…). E no entanto, de outro lado, o homem ainda que habitado pelas ânsias dessa liberdade total a transgredir todos os limites, admite também, nas mais simples experiências da cotidianidade contemporânea, o reconhecimento das fronteiras condicionantes da liberdade, simplesmente porque esse homem frequenta o médico, as perquirições psicanalíticas, e aflige-se com os avassaladores conflitos do mundo social e político”.
*Marilena Chaui é professora Emérita da FFLCH da USP. Autora, entre outros livros, de Cidadania cultural: política cultural e cultura política novas (Autêntica) [https://amzn.to/3T98Ywk]
Referência
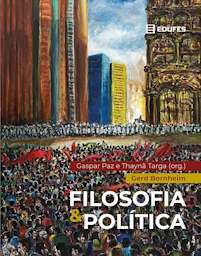
Gerd Borheim. Filosofia & política. Organização: Gaspar Paz & Tayanã Targa. Vitória, EDUFES, 2025, 280 págs. [Neste link]
Notas
[i] Gerd Borheim “Notas para o estudo de uma ética enquanto problema”, in: Metafísica e finitude. São Paulo, Perspectiva, 2001; “O sujeito e a norma”, in A. Novaes (org.) Ética. São Paulo, Cia. das Letras, 1992; O avesso da liberdade. São Paulo, Cia das Letras, 2002.
[ii] G. Borheim “O sujeito e a norma”, op. cit., p. 249.
[iii] Gerd A. Borheim. Sartre, Parte I, São Paulo, Editora Perspectiva, 1971.
[iv] G. Borheim “Notas para o estudo de uma ética enquanto problema”, op. cit., p. 33
[v] Idem, ibidem p. 34.
[vi] G. Borheim “O sujeito e a norma”, op. cit., p. 256.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
C O N T R I B U A


