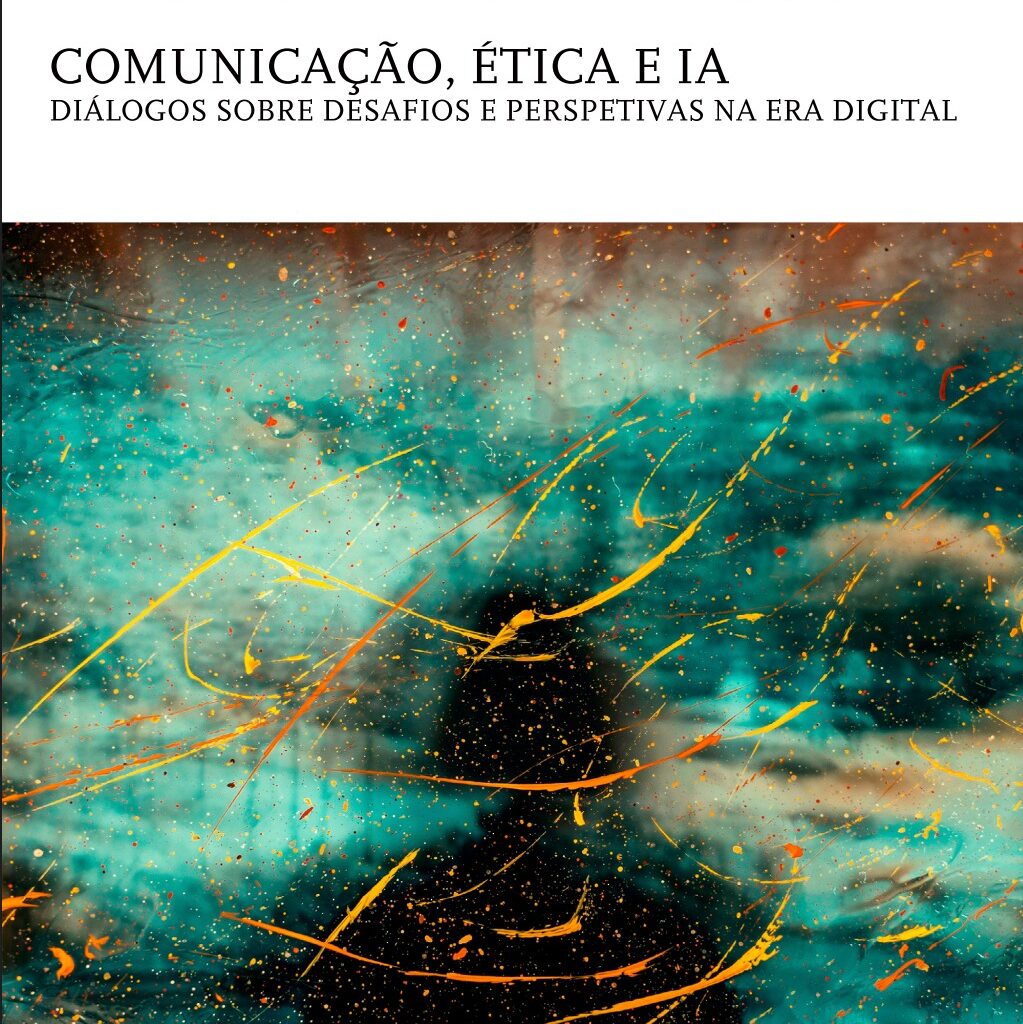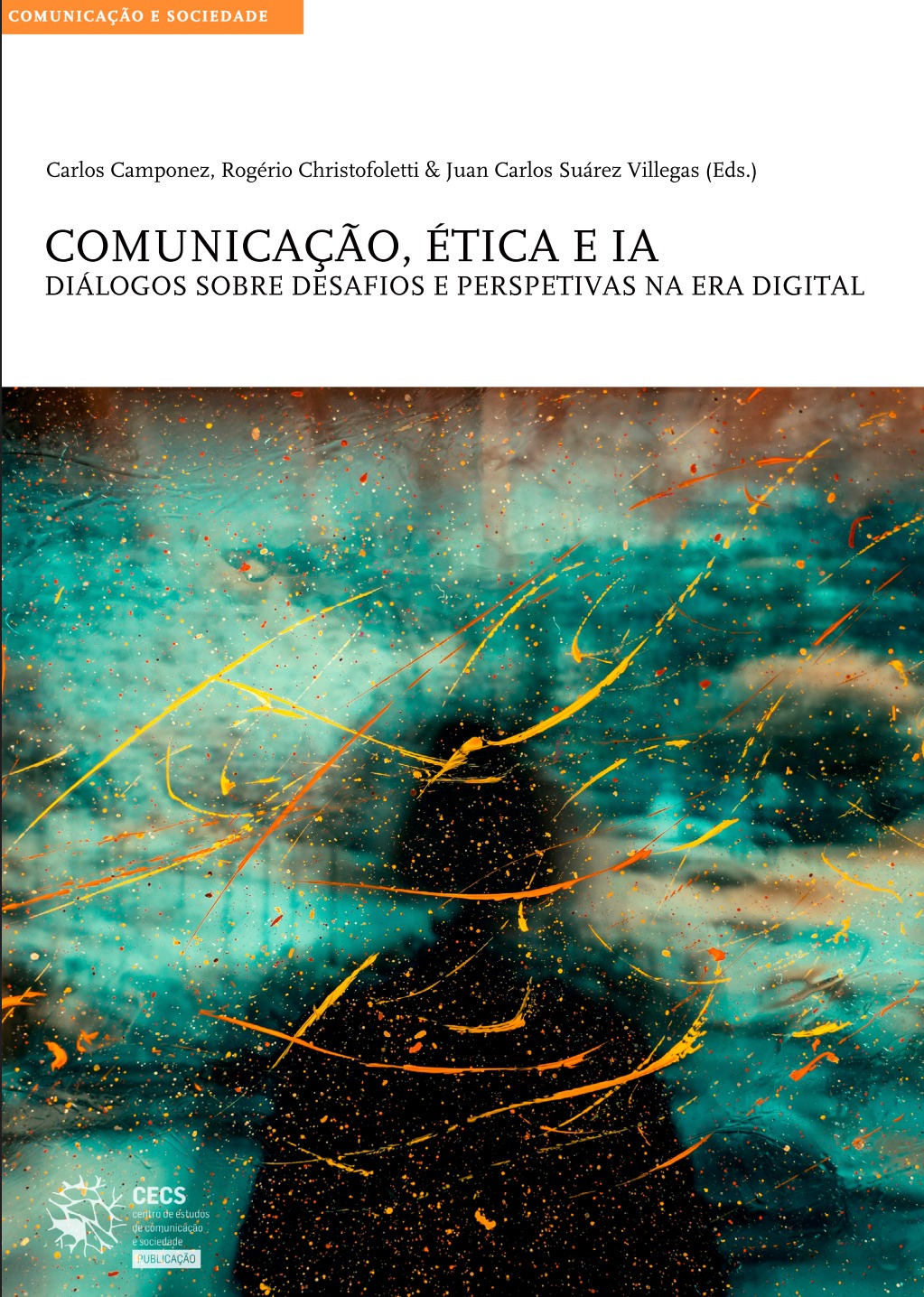
(Imagem: Divulgação)
É muito provável que na semana em que você lê este livro um punhado de novidades tenha sido anunciado no campo da inteligência artificial (IA), da robótica e dos sistemas pretensamente autônomos. Isso vem acontecendo nos últimos anos, chamando a atenção de quem entende e quem nada sabe sobre o assunto. E em tão pouco tempo – sejamos honestos! –, nosso imaginário foi novamente assaltado por enigmáticos personagens sintéticos, promessas de realizações milagrosas, incertezas sobre o futuro imediato e ameaças ao nosso velho mundo. Entre a especulação, o tecnosolucionismo, o marketing digital e os frutos efetivos do desenvolvimento existe uma galáxia de desejos, sonhos, frustrações e fantasmas. Isso é natural porque estamos no continuum dessa história, longe de ter todas as respostas às muitas perguntas que nos assombram.
Gestado no campo dos estudos da comunicação, este livro se soma a outros esforços para tentar compreender o que alguns consideram ser um divisor de águas na história humana e na do próprio planeta. Para os mais entusiasmados, haverá um antes e um depois da IA; para os mais pessimistas, essa profecia só aumenta o entulho das nossas preocupações técnicas, éticas e comunicativas. Nossas próximas páginas não se dedicam apenas às tensões e diálogos com a IA, abrigando também debates sobre moralidade, ética aplicada, desafios profissionais e redimensionamento dos processos comunicacionais.
Um leque tão variado tem sua razão de ser: este livro reúne textos selecionados que foram apresentados na oitava edição da “Media Ethics Conference”, em 2024. O evento teve lugar na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, numa realização conjunta com a Universidade de Sevilha (Espanha), Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil), do Centro de Estudos Interdisciplinares e do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho (ambos de Portugal).
Para dar conta da multiplicidade de abordagens, dividimos os capítulos em três seções apenas para enfatizar afinidades temáticas. Isso não impede que sejam feitas leituras não-sequenciais dos textos, por exemplo, e que haja um fluxo errático de consumo das páginas. Na prática, a liberdade de decidir por onde ir é de quem está segurando este volume. Cabe aos organizadores apresentar rapidamente os capítulos a seguir.
Composta por sete textos, a primeira seção aborda preocupações reais para as IA. Começamos com uma astuta afirmação de Rafael Capurro: Joseph Weizenbaum encarna a ideia de parresía na era digital. Para lembrar: os gregos antigos chamavam de “parresía” a coragem de dizer a verdade mesmo diante de riscos; e Weizenbaum foi um importante nome da ciência da computação quando ela se preparava para dominar o mundo. Quando ainda estávamos deslumbrados com o potencial das máquinas, Weizenbaum chamou a atenção para aspectos éticos, como a centralização desse poder e a distribuição global dos benefícios dessa revolução. O argumento de Capurro foi apresentado na forma de conferência na “Media Ethics Conference”, publicada neste livro de forma inédita em português.
Na sequência, Luis Borges Gouveia, Maria Beatriz Marques e Miguel Santos perguntam se as plataformas digitais podem ser transformadas pela IA. Longe de um exercício retórico, os autores estão interessados em discutir como dois recentes instrumentos regulatórios europeus – o Regulamento Serviços Digitais e o Regulamento Mercados Digitais – podem impactar o desenvolvimento de sistemas de IA que não podem se esquivar de aspectos como segurança, privacidade e responsabilidade.
José Manuel Simões e Wilson Caldeira se detêm sobre a modalidade mais comentada atualmente de IA, a generativa. Os autores reconhecem os muitos avanços que podem vir a surgir dessas novidades, mas reforçam a preocupação de buscar harmonizar criação sintética e integridade, eficiência técnica e valores humanos. Francilene Silva e Rita Paulino se debruçam sobre políticas de uso de IA de cinco meios brasileiros, detectando riscos como plágio, opacidade, preconceitos, vieses e desinformação. Para a autora, a não-rara ocorrência de erros e a necessidade inadiável de supervisão humana apontam para a urgência de refinamentos técnicos e éticos para assegurar qualidade e precisão nos produtos jornalísticos.
Mais otimistas, William Henrique França e Marco Schneider adotam uma postura pragmática ao tentar demonstrar a aplicabilidade de soluções de IA para a detecção e remoção de conteúdos desinformativos do ambiente online. A tecnologia ajuda a enfrentar o problema, mas os autores também reconhecem a necessidade de acionamento do direito regulatório para fixar parâmetros de segurança e estabelecer contrapartidas e responsabilidades dos criadores dos sistemas de IA.
Antonino Mario Oliveri e Gabriella Polizzi lançam mão da teoria dos sistemas e da teoria do enquadramento para analisar a comunicação pública da ciência e dos problemas sociais em tempos de midiatização. No contexto italiano, suas conclusões indicam uma inclinação comum em direção à objetificação de dados, o que está diretamente associado a práticas discursivas para a construção de aparência de verdade nos relatos.
Jorge Rafael Martins Garrido e João Carlos Vicente Sarmento discutem o uso de soluções de IA em eleições, observando aspectos éticos nos processos de comunicação entre os atores políticos e os eleitores.
Na segunda parte do livro, são abordados o que chamamos de “eticidades comunicativas”, isto é, domínios e funcionamentos de valores, atos e consequências no âmbito das comunicações sociais.
Juan Figuereo-Benítez e Julietti-Sussi de Oliveira avaliam o uso de novos formatos de comunicação política, como o emprego do TikTok nas eleições gerais de 2023 na Espanha. Entre os resultados da pesquisa está a observação de que partidos mais novos, como o Vox – da extrema-direita – e Sumar – da esquerda – utilizaram recursos e linguagens da rede social chinesa com mais eficácia diante de audiências segmentadas.
Também mergulhadas no contexto espanhol, Lorena Chiwerto Callejo e Gemma Teodoro Baldó abordam os desafios para regulamentar a atividade de novos atores da comunicação, como os influenciadores digitais. Para tanto, avaliam legislações recentes e contrastam a atuação desses personagens com os padrões éticos do jornalismo profissional local.
Do outro lado do Atlântico, Raphaelle Batista, Natalia Huff e Kalianny Bezerra fazem um mapeamento de valores deontológicos indicados por profissionais na pesquisa Perfil do Jornalista Brasileiro 2021. Apoiado em mais de 6.000 respostas, o estudo observou a relação entre qualidade de vida no trabalho, indicadores de precarização e valores da ética profissional, revelando a crescente importância de condicionantes como credibilidade e transparência para a atuação ética.
Também atento às mudanças na vida e no modo de trabalho de jornalistas, Marcelo Balbino discute aceleração social e velocidade nos processos de produção de notícias, cujos impactos são sentidos nas redações e no próprio status desses profissionais.
No último capítulo da segunda seção, Leoní Serpa discute os dilemas da proximidade informativa entre mídia de fonte, divulgadores científicos e jornalistas quando o assunto é notícias sobre o espaço. Num comparativo entre as paisagens brasileira e portuguesa, a autora identifica características de funcionamento que alertam para a dependência das agências espaciais na produção do noticiário, dada a prevalência de divulgadores e não jornalistas como comunicadores principais.
Na parte final deste livro, outros quatro capítulos nos oferecem estudos ou perspectivas que nos estimulam a manter nossa mirada no horizonte. Ivone Rocha e Rita Paulino documentam a violenta campanha de ataques online sofridos por uma blogueira por conta de seu ativismo feminista. Milene Migliano propõe pensar sobre uma ética da reparação a partir de perfis nas redes sociais de uma rapper indígena. Pela ótica dos estudos decoloniais, Jorge Kanehide Ijuim e Sandra Madalena Barbosa da Luz analisam coberturas jornalísticas de duas operações policiais num cenário de violência no Brasil. Ana Carolina Trindade lista contribuições da literacia mediática no contexto comunicacional português.
O sumário deste livro é quase tão vertiginoso quanto um livro de Philip K. Dick. Há quase 60 anos, aliás, o escritor imaginou um futuro em que robôs estivessem tão integrados à vida dos humanos que as fronteiras entre natural e artificial ficassem borradas. Nesse mundo imaginado, as cidades são insalubres, as relações são tóxicas como a atmosfera, e o cidadão ordinário anseia ter animais de estimação verdadeiramente biológicos já que estão disponíveis apenas exemplares sintéticos. Androides sonham com ovelhas elétricas?, pergunta Dick no título do livro, chamando a atenção para questões que ajudam a compor a nossa filosofia de ser e a nossa própria forma de existir.
Não tão distantes desse futuro, ainda insistimos em indagar sobre a natureza de nossas escolhas, a legitimidade de nossos atos e as consequências desses gestos. Recorremos aos sistemas de IA como os antigos buscavam o Oráculo de Delfos. Ainda repetimos velhas perguntas, revisitamos infinitas polêmicas, mas ainda não desejamos ovelhas elétricas. Talvez porque outros anseios povoem nossas almas, talvez porque ainda conservemos uma natureza incerta ou talvez ainda porque nossos sonhos permanecem indomáveis e insondáveis.
Esta é a apresentação do livro “Comunicação, Ética e IA: diálogos sobre desafios e perspectivas na era digital”, organizado por Carlos Camponez, Rogério Christofoletti e Juan Carlos Suarez Villegas e que acaba de ser lançado pela Editora Uminho e CECS, de Braga, Portugal.
O livro pode ser baixado gratuitamente aqui: https://www.cecs.uminho.pt/wp-content/uploads/2025/10/comunicacao_etica_ia-1.pdf
***
Carlos Camponez é professor da Universidade de Coimbra (Portugal).
Rogério Christofoletti é professor da Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil).
Juan Carlos Suárez Villegas é professor da Universidad de Sevilla (Espanha).