Por ERNANI CHAVES*
Considerações sobre o livro recém-editado de Laurie Laufer.
1.
O título do livro de Laurie Laufer, psicanalista e professora na Universidade de Paris VII, reúne em torno da psicanálise duas palavras, que durante muito tempo permaneceram à sombra ou mesmo quase inteiramente esquecidas, quando se trata do saber instaurado por Freud. Nem emancipadora, muito menos subversiva, a psicanálise parecia estar solidamente ancorada numa rigidez quase cadavérica, praticamente imune às transformações de toda ordem, que ocorriam à sua volta.
Estranho destino de uma obra, nascida da conjunção entre clínica, teoria e cultura. Estranho destino de uma prática, cujo ponto de ancoragem é a confrontação entre desejo e regras de condutas e comportamentos, confrontação que desestabilizou determinadas “verdades”, que no final do século XIX se estabeleciam como aquelas que podiam prevenir, tratar e, possivelmente, curar, o que se designava como “doenças mentais”.
Não se trata, pelo menos para mim, de insistir numa história “heroica” da psicanálise, que a entende como uma “ruptura epistemológica” no sentido althusseriano, que faz de Freud uma espécie de “ponto zero”, ponto em que tudo começaria de novo e diferente do que havia antes, em especial a descoberta “do” Inconsciente.
Essa mesma fórmula heroicizante também se repete algumas décadas depois, desta feita com Lacan e seu “retorno a Freud”. Se é verdade que a psicanálise estabeleceu, de fato, um ponto de inflexão na história de nossa cultura – o que nem um de seus mais severos críticos, Michel Foucault, nunca deixou de reconhecer – é verdade também que ela não pode ser compreendida às expensas de sua inserção histórica.
O que me ocorre aqui, numa breve analogia que tem seus motivos e cuja explicitação mais rigorosa ultrapassa os limites e os objetivos desse texto, a propósito da relação entre um pensamento e o tempo em que viveu o seu autor ou sua autora, é o modo pelo qual Friedrich Nietzsche definiu o caráter extemporâneo de sua obra num texto tardio, mais especificamente, logo no “Prólogo” de O caso Wagner (1887): “O que exige um filósofo de si, em primeiro e em último lugar? Superar em si seu tempo, tornar-se ‘atemporal. Logo contra o que deve travar seu mais duro combate? Contra aquilo que o faz um filho de seu tempo”.[i]
Ora, mas essa é apenas a primeira parte da proposição nietzschiana a respeito do papel do filósofo, ou seja, aquele que é um combatente, um guerreiro, cujo adversário é o seu próprio tempo. Daí a imperiosa necessidade para que um pensamento se estabeleça, de que ele possa superar o seu próprio tempo e, com isso tornar-se “atemporal”! Estranha conclusão, à primeira vista, como se a vitória contra o próprio tempo fosse uma abolição do tempo e, portanto, da própria historicidade.
Entretanto, o argumento nietzschiano, apresentado por meio de sua conhecida “retórica de artilheiro”, acrescenta algo fundamental: não se pode combater o seu próprio tempo sem reconhecer-se “filho do seu tempo”: “Tanto quanto Wagner eu sou um filho desse tempo, quer dizer um decadent, mas eu compreendi isso e me defendi. O filósofo em mim se defendeu”.
Desse modo, tornar-se “atemporal” não significa, de modo algum, entender-se fora da história, mas sim, estabelecer com seu próprio tempo uma distância, de tal modo que possamos interferir nele, agir sobre ele e, no vocabulário nietzschiano da época, no limite, realizar uma “transvaloração”. Ou seja: recriar a tábua valorativa que nos guiou até então. Sem, entretanto, não esquecer que só podemos ter a pretensão de construir outra história com o prévio reconhecimento que fazemos parte intrínseca e inalienável do tempo, que queremos superar.
Isso fica bem explicito ao final do “Prólogo”: “Eu entendo perfeitamente, se hoje um músico diz: ‘Odeio Wagner, mas não suporto mais outra música’. Mas, também compreenderia um filósofo que dissesse: ‘Wagner resume a modernidade. Não adianta, é preciso primeiro ser wagneriano”.
2.
Recorro a Nietzsche, insisto, para me contrapor às histórias da psicanálise, que reiteram com teimosia o caráter absolutamente “novo” do pensamento freudiano, como se a psicanálise, ao invés de ter um “ponto de surgimento” ou ainda de “emergência”, tivesse uma “origem”, esta sim, fora do tempo, numa “atemporalidade” que, ao contrário de Nietzsche, se opõe às marcas do tempo.
E, por que me ocorreu começar esse texto com essa referência a Friedrich Nietzsche, referência aparentemente tão fora de lugar? É porque, me parece, que a retomada de palavras tão eloquentes e contundentes, como essas que intitulam o livro de Laurie Laufer – emancipação e subversão – só podem ser compreendidas quando enraizadas no solo onde nasceu a psicanálise e no caminho posterior que ela tomou, em meio às vicissitudes do seu tempo, ou melhor, do nosso tempo.
Pois são essas vicissitudes que abrandaram e, em alguns momentos, sufocaram o seu caráter emancipatório, de tal modo que de sua subversão, muitas vezes quase nada restou. No fundo, no fundo, conhecemos bem as causas que levaram a isso. Melhor ainda: aqui entre nós cada vez mais podemos nos dar conta até que ponto essa subversão sucumbiu inteiramente.[ii]
Não por acaso também, foi nesse período ditatorial que surgiram duas das mais importantes e vigorosas interpretações psicanalíticas do racismo à brasileira e de suas consequências, tanto no plano do sofrimento psíquico quanto no social e político: as de Lélia Gonzalez e Neusa Santos Sousa. Como vemos, o plano da história é sempre um plano que nos ajuda a refletir sobre o nosso próprio tempo e compreender quão profundas são as nossas “raízes”.
O que me agrada bastante, desde o início, no livro de Laurie Laufer e, por isso, recomendo vivamente sua leitura, é o fato de que ela não faz concessões à ligeireza, à rapidez mesmo como se tornou bastante comum criticar tanto Freud quanto Lacan. Rapidez e ligeireza, que são o resultado, bastante óbvio, de uma leitura rápida e pouco atenta aos movimentos e deslocamentos da história da psicanálise.
3.
O que quero dizer com isso? É que não se pode, na altura do campeonato, nem ler Freud ao pé da letra, literalmente, muito menos absolutizar o que é no seu pensamento e na sua prática clínica, as “evidências” de que ele é filho de seu tempo! Lê-lo ao pé da letra, literalmente, significa exatamente arrancá-lo à fórceps do seu tempo, como se aquele que ganhou o Prêmio Goethe de Literatura se expressasse sem o infinito recurso ao que aprendemos rapidamente nas aulas do português do ensino médio, o das “figuras de linguagem”.
Isso tem resultado, em muitos casos, prioritariamente, na leitura-denúncia, ou seja, aquela que apenas constata o que, aos olhos desse tipo de intérprete, é o óbvio: o misógino, o antifeminista, o parceiro da exploração colonial, lídimo representante do patriarcado! Encontrar nos textos de Freud as marcas do seu tempo me parece um exercício muito fácil e simplificador. Agora, encontrar nele as marcas da subversão, essa é uma tarefa que exige tempo e paciência e, principalmente, que o próprio intérprete possa reconhecer-se como um “filho de seu tempo” e que não abuse da autoridade que muitas vezes é ele mesmo que se atribui.
Laurie Laufer não cai nessa armadilha. E olha que o tempo de Laufer tem uma singularidade especial: não é apenas o tempo comum ao mundo em que vivemos, sufocados pelo neoliberalismo, pelo retorno aterrador dos movimentos de extrema direita e da continuidade das guerras genocidas, mas o tempo próprio da psicanálise no ponto em que ela renasceu a partir do começo dos anos 1950: a França, a França do “retorno a Freud”.
Laurie Laufer (como Paul B. Preciado, por exemplo) não recua diante da ortodoxia e da intolerância com a qual a elite da psicanálise francesa – que deita suas raízes no Brasil faz bastante tempo – aquela que toma para si o epíteto da “verdadeira psicanálise”. O diagnóstico de Laurie Laufer é de que essa posição, defendida especialmente por aqueles/as mesmos/as que desqualificam tanto o “monstro” Paul B. Preciado quanto Judith Butler e outras, viram as costas para o que há de subversivo e transgressor no próprio “ensino” de Jacques Lacan.
“Subversão”, sabemos, é uma palavra forte e contundente também em Lacan, que aparece no próprio título de um de seus textos mais conhecidos. Laurie Laufer argumenta, cita textos tanto de Freud quanto de Lacan sem retirá-los dos seus contextos, articulando-os às problemáticas que surgem no seu tempo, mas que o ultrapassam, dirigindo-se a nós, não por meio de fórmulas que solucionam, como se fossem bulas de remédios, mas que nos deixam questões, problematizações.
Assim, a leitura paciente, exigente e rigorosa de Laurie Laufer, mesmo que dispense a exaustividade de uma explicitação, pois não se trata de uma tese, devolve a esses textos, os de Freud e os de Lacan, o vigor, a impetuosidade crítica, e, principalmente, um conjunto de problemas, os quais, do meu ponto de vista não podem ser enfrentados sem eles. Embora, saibamos, que eles, apenas eles, sozinhos, não poderão mais responder à todas as interrogações do nosso presente.
4.
É aqui, me parece, que o pensamento de Michel Foucault ganha seu relevo no livro de Laurie Laufer. Foucault é, declaradamente, no livro, o interlocutor que pode estabelecer com a psicanálise um diálogo frutífero, sem se reconhecer inteiramente nela. Talvez, por isso mesmo, ele seja tão importante e tão frutífero.
Eu gostaria apenas de ressaltar, mais uma vez, dois textos de Michel Foucault, nos quais a psicanálise é chamada para contribuir nesse processo de “subversão”, rumo a uma possível “emancipação”. O primeiro, a conferência de 1969, “O que é um autor?” e o segundo, a “Introdução” ao volume II da História da sexualidade, “O uso dos prazeres”, de 1984.
Do primeiro, relembro a posição de Michel Foucault de que tanto Marx quanto Freud são pensadores de “discursividades”, ou seja, de que suas obras não estão encerradas em si mesmas, à maneira do “sistema” entendido tradicionalmente, mas que seu vigor crítico permanece justamente porque nem um nem outro as impõem ao leitor ou ao intérprete com o selo da autenticidade e da verdade, que a figura tradicional do autor imporia.
Assim, o “retorno a Freud” de Jacques Lacan e o “retorno a Marx” de Louis Althusser são tornados possíveis porque tanto Marx quanto Freud como que o permitem, de tal modo que eles próprios com esse gesto, tornam-se extemporâneos (marxistas, principalmente, perdoem essa rápida “nietzschenização” de Marx).
Entretanto, tanto num caso como no outro, é preciso que esse “retorno” seja também um retorno aos “textos”, não para reiterar o que neles está escrito, mas para redescobrir e salvaguardar a “subversão” que os constituem e os atravessam. Relembro aqui a observação de Michel Foucault em uma entrevista, no calor das discussões sobre o Vigiar e punir, na qual ele diz mais ou menos assim: “aqueles que dizem que não leio Marx, esses sim são os que não o leram, pois são incapazes de reconhecer quando falo a partir de Marx, quando cito Marx….mas sem aspas”! Que vistam as carapuças aqueles que criticam Freud, Lacan, sem lê-los!
5.
Do segundo, relembro a definição de Michel Foucault para a atividade filosófica, uma atividade que deveria ser entendida como uma “maneira de viver” e não apenas como um exercício da reflexão, como se entre ambas, reflexão e vida, houvesse apenas um abismo intransponível. Mesmo que busque respostas, mesmo que tente encontrar soluções para os problemas que levanta, a atividade filosófica não se restringe a isso e muito menos define-se por isso.
Ao contrário, o que a caracteriza é que, como modo de vida, é sempre problematizadora, mas o processo de problematização implica o sujeito de uma forma muito especial: se alguma transformação precisa ocorrer, ela começa no próprio sujeito, de tal modo que, ao final do processo, ele se torne o outro dele mesmo, que não seja mais o mesmo que era antes do processo de problematização.
A ideia de problema é aqui fundamental, pois um problema é sempre aquele que nasce do nosso próprio tempo, que nos acossa, que nos impele e que para tentar encontrar saídas só nos resta, de início, recorrer à nossa própria história para que, antes, compreendamos o nosso pertencimento ao tempo em que vivemos. Aqui, a filiação nietzschiana de Michel Foucault é evidente. E é para isso que serve a genealogia.
Não se trata, por exemplo, como leituras apressadas tanto repetiram, que Michel Foucault reduzia o analista (essa figura não só tradicionalmente heroica, mas igualmente resguardada de todas as injunções profanas) à figura do padre, ao incluir a psicanálise na história da “confissão”. Mas, de mostrar, numa história “a contrapelo”, que não podemos compreender a clínica psicanalítica sem a própria história dos processos de escuta do sofrimento, que foram inicialmente codificados pelas práticas religiosas e judiciárias em diversos momentos e contextos.
E que isso não rebaixa a psicanálise, mas, ao contrário, ao fazê-la encontrar seus limites, torna possível os movimentos emancipatórios. E se há uma tarefa que considero fundamental na tal “formação do/da analista” hoje é, justamente, a de limpar a cera dos ouvidos diariamente, para que sua escuta se amplie, ganhe outras cores, outras musicalidades, outros solfejos, de tal modo que as questões do racismo, do gênero, da classe, num país como o Brasil, possam continuar a subversão que o pai Freud, a despeito dos limites do seu tempo, encarnou com radicalidade.
Esse texto não é uma resenha sobre o livro de Laurie Laufer, no estilo clássico e tradicional das resenhas, que têm um inegável valor. Mas, é um texto “a partir de” e não “sobre o livro”. Esta me parece a melhor atitude, de minha parte, no momento, quando recomendamos a leitura de um livro: deixar que o leitor, a leitora, tenha a oportunidade de ter a sua própria leitura, que ele/ela construa, como eu próprio creio ter feito, a sua perspectiva de entrada na trama do livro.
A minha, é claro, reflete estudos e pesquisas de mais de 40 anos, não poderia ser de outro jeito. Mas, sem esquecer, que nada melhor do que uma leitura paciente e atenta, para que a perspectiva adotada possa somar, contribuir, para que esse livro possa manter acesa, em nós, a chama que o alimenta: a da atitude de subversão, movida pelo desejo de emancipação.
*Ernani Chaves é professor titular da Faculdade de Filosofia da UFPA. Autor, entre outros livros, de No limiar do moderno (Pakatatu). [https://amzn.to/3TExJzW]
Referência
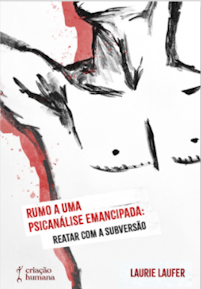
Laurie Laufer. Rumo a uma psicanálise emancipada: reatar com a subversão. Tradução: Isadora Nuto. Porto Alegre, Editora Criação Humana, 2025. [neste link]
O lançamento, com a presença da autora, na cidade de São Paulo, será nesta sexta-feira, 24 de outubro no Auditório Aurora Furtado do Instituto de Psicologia da USP, na Cidade Universitário.
Notas
[i] Nietzsche, F. O Caso Wagner. Tradução, Notas e Posfácio de Paulo Cesar de Souza. São Paulo: Cia. Das Letras, 1999.
[ii] Ver a respeito, Rafael Alves Lima. Psicanálise na Ditadura (1964-1985). História, Clínica e Política. São Paulo: Perspectiva, 2024.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
C O N T R I B U A


