Por mais desafiante — perigoso, até — que seja caminhar pelas águas lodosas do passado e da memória, tal nunca foi impedimento para Javier Cercas. Aliás, foi a calcorrear esses terrenos movediços da história recente de Espanha que se tornou num dos mais celebrados romancistas do país vizinho. O sucesso de obras como Soldados de Salamina, Anatomia de um Instante ou O Impostor espelhou não só a coragem em abordar os temas da Guerra Civil Espanhola, do Franquismo e do regime democrático que o sucedeu num titubeante consenso, mas também a mestria e a sensibilidade ao fazê-lo.
O escritor de 63 anos teve, no entanto, de se socorrer de toda essa experiência quando, em 2023, partiu do Vaticano uma proposta tão inédita quanto desconcertante: acompanhar a comitiva do Papa Francisco na sua viagem oficial à Mongólia e escrever sobre a experiência. Habituado a tratar temas sensíveis, o grande obstáculo que avistava desta vez era ele próprio, “ateu, anticlerical e laicista militante” que perdera a fé ainda adolescente e encontrara consolo nos livros. “O maior esforço que tive de fazer foi livrar-me de preconceitos, porque todos os temos quanto à Igreja Católica, sejam a favor ou contra”, afirma ao Observador em Lisboa. “E, ao fazê-lo, as surpresas foram constantes”, adianta.
É dessa experiência que resulta O Louco de Deus no Fim do Mundo, que veio promover ao nosso país, livro que junta biografia, autobiografia, crónica, ensaio e literatura de viagem num “romance sem ficção” mas que também tem o seu quê de policial. Porquê? Porque trata “de um louco sem Deus”, ele mesmo, que “vai procurar o louco de Deus”, Francisco — assim descrito porque esse é um dos títulos carinhosamente dados a São Francisco de Assis —, até “ao fim do mundo, a Mongólia” para “lhe fazer a pergunta mais elementar, mas também a mais importante: ‘A minha mãe vai ver o meu pai depois da morte?’”.
O cariz de romance policial justifica-se porque no livro vai persistindo a incerteza de Cercas em conseguir falar com Francisco, apesar de viajarem no mesmo avião. E, ao mesmo tempo, foi dessa dificuldade que brotou uma obra onde Cercas tem um acesso inédito ao Vaticano, o coração de uma Igreja Católica que temos “tão perto que nem a vemos”, como peixes sem consciência da água onde nadam. É assim que, além de tentar compreender os dogmas do catolicismo, o autor tentou também perceber quem foi a figura de Francisco e qual foi a “grande revolução” que tentou levar a cabo, temas que trouxe para esta conversa.
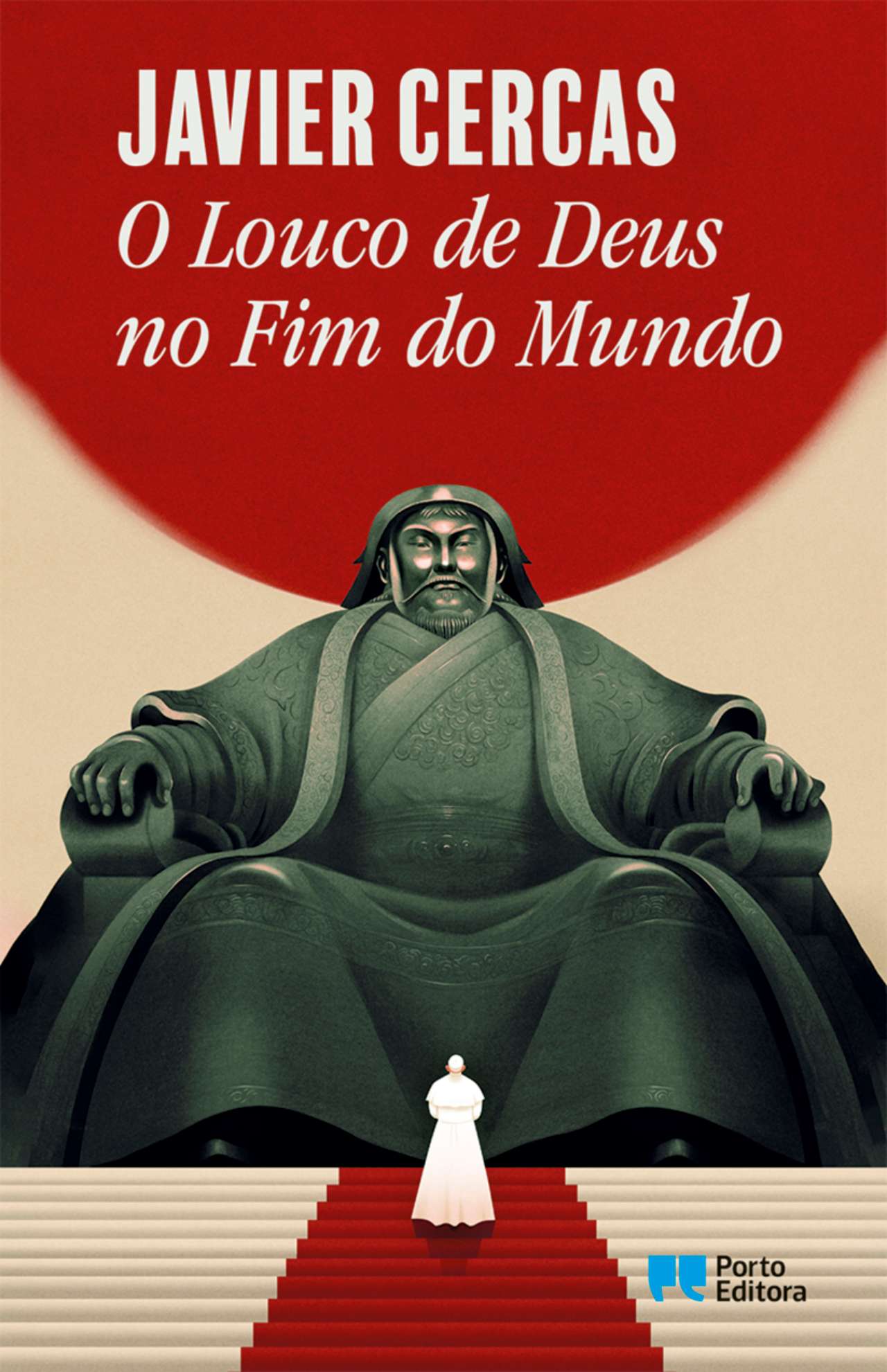
▲ Capa de “O Louco de Deus no Fim do Mundo”, de Javier Cercas, na edição portuguesa da Porto Editora
A certa altura de O Louco de Deus no Fim do Mundo, descreve este livro como “uma peregrinação”. O que levou um autor que se autodefine como “ateu, anticlerical e laicista militante” a empreendê-la?
Porque tive uma oportunidade incrível e porque tinha também uma necessidade, uma pergunta fundamental a fazer. Em primeiro lugar, a oportunidade de fazê-lo. Pela primeira vez em dois mil anos, a Igreja abriu as suas portas a um escritor, o que nunca tinha acontecido. Às vezes perguntam-me como é possível que um escritor ateu, anticlerical, laicista, etc., como eu, tenha aceitado a oportunidade de escrever este livro, e minha resposta é outra pergunta: como não aceitar? A Igreja Católica tem sido absolutamente decisiva, em todos os sentidos: político, cultural, ético. Como recusar uma oportunidade absolutamente única? Sinto-me totalmente privilegiado. Já ia aceitar de qualquer das formas, mas além disso havia uma questão muito importante.
Uma promessa?
Sim. Como já contei muitas vezes, quando me fizeram essa proposta, a primeira coisa em que pensei foi na minha mãe, que era uma pessoa muito católica, profundamente crente. Quando o meu pai morreu, a minha mãe, que tinha vivido toda a vida com ele, dizia que iria vê-lo após a morte — e não dizia isso porque era uma ideia da cabeça dela, mas porque esse é o cerne do cristianismo. É o que diz São Paulo, que foi quem, de certa forma, inventou o cristianismo: que nós ressuscitaremos porque Cristo ressuscitou, “e se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé”. Então, naquele momento, soube do que trataria este livro: de um louco sem Deus que vai procurar o louco de Deus até ao fim do mundo, a Mongólia. Louco sem Deus, ou seja, uma pessoa como eu, educada no cristianismo, com uma família muito católica, com uma educação católica, vindo de um país católico…
Como recorda no livro, um cristão cultural, de uma forma ou outra.
Totalmente. “Não podemos deixar de nos chamar cristãos”, como nos dizia [Benedetto] Croce. Mas eu perdi a fé a dado momento, como a imensa maioria de nós. Portanto, um louco sem Deus que vai procurar o louco de Deus — que é Francisco, porque foi o primeiro papa a escolher esse nome, como Francisco de Assis, que considerava-se a si mesmo “o louco de Deus” — para fazer-lhe a pergunta mais elementar, mas também a mais importante: “A minha mãe vai ver o meu pai depois da morte?”. Queria fazer essa pergunta à única pessoa com autoridade para respondê-la no universo católico, o Papa, ouvir a sua resposta e levá-la de volta à minha mãe. Portanto, este livro é, em certo sentido, um romance policial — como todos os meus livros, como todos os meus romances e como todos os romances que me importam, desde Dom Quixote até hoje. Porque no coração de todas essas obras há um enigma e alguém que tenta decifrá-lo. E essa é a essência do género policial. O enigma deste livro é o fundamental do cristianismo e, portanto, um dos enigmas centrais da nossa civilização, a ressurreição da carne e a vida eterna.
