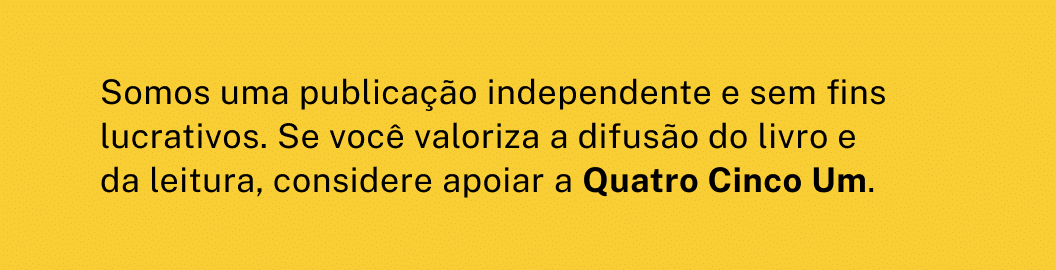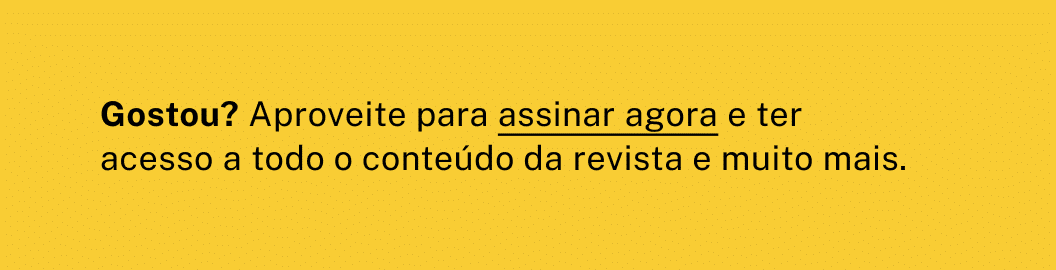Depois de ter embarcado rumo à Guiné-Bissau em 2010 para conhecer suas origens familiares oeste-africanas, o físico e diplomata Ernesto Mané reúne as memórias dessa travessia em Antes do início, que chega às livrarias pela Tinta-da-China Brasil, selo editorial da Associação Quatro Cinco Um.
Nascido em João Pessoa, Mané é filho de mãe paraibana e pai guineense, que emigrou para o Brasil nos anos 70. Inquieto para conhecer a família paterna, o autor cruzou o Atlântico e, em seu retorno, trouxe consigo reflexões sobre negritude, racismo e a África hoje, as quais ele compartilha no livro recém-lançado.
Em seu relato, Mané analisa as diferenças culturais e de perspectiva entre Guiné-Bissau e Brasil — ele revela seu choque ao ser chamado de ‘branco’ no país africano —, reforça a importância de se conhecer o passado e conta sua decisão de pedir a dupla cidadania.
Trecho de ‘Antes do início’
Madri, terça-feira, 24 de maio de 2022
O contexto específico dos fatos narrados no meu diário da viagem à Guiné-Bissau de 2010 e 2011 já se desmanchou. Não é mais possível voltar para aquela porção do espaço-tempo. Resta confiar na memória, que, agora começo a perceber, é falha. Por vezes, me sinto como se tentasse me agarrar a algo que aos poucos desaparece.
Em uma década, houve mudanças radicais na minha família do Brasil e da Guiné-Bissau. Se eu voltasse para a Guiné-Bissau hoje, encontraria outro ambiente. Muitas das pessoas que conheci quando estive lá morreram ou foram embora do país. Entre os que morreram estão meu pai e meu avô, os tios Tibúrcio, Irineu e, nesta semana, a tia Nenê. Os únicos parentes que ainda estão na Guiné-Bissau são minha irmã Mira, que se tornou enfermeira e parteira e ainda mora em Bissau, e meu primo Papa, que ficou em São Domingos com a esposa, a Joana. É estranho imaginar que daqui a alguns anos essas pessoas, inclusive eu, não terão mais existência concreta, e que aquilo que escrevo, em certa medida, servirá para manter viva na memória a existência delas.
Tenho pensado muito na morte, em particular na morte de corpos negros. Nesta semana soube que o Genivaldo de Jesus Santos foi torturado e morto por policiais rodoviários, asfixiado numa câmara de gás improvisada dentro de um camburão, em Sergipe. No início de 2022, o imigrante congolês Moïse Kabagambe foi amarrado num poste, torturado e assassinado à luz do dia, num quiosque de praia no Rio de Janeiro. Em 2021, George Floyd foi estrangulado até a morte, nos Estados Unidos, por um policial que já o tinha imobilizado; em 2020, o ator guineense Bruno Candé foi morto a tiros, num bairro de Lisboa, por um veterano da guerra colonial portuguesa; no mesmo ano, João Alberto Silveira Freitas foi espancado e estrangulado por seguranças de uma unidade do hipermercado Carrefour em Porto Alegre. A morte banal de homens negros, quase sempre violenta, é continuamente utilizada por agentes públicos e privados como instrumento para disciplinar essa população por meio do terror.
Quando estava no pós-doutorado em Vancouver, durante uma rodada de apresentações do grupo de capoeira de que participava, lembro de ter comentado que sou filho de africano. “Ah, mas todos os brasileiros são descendentes de africanos…”, disse uma das pessoas, como se esse fato fosse um detalhe desimportante. Era uma brasileira branca que, sempre que podia, lembrava com orgulho sua origem italiana. Aos negros brasileiros foi negado o direito à memória e às conexões com seu passado ancestral, localizadas no continente africano. Ainda que tenha avançado o estudo de mapeamento genético e que seja possível localizar as regiões de origem da diáspora, é impossível recuperar as histórias familiares. Tenho a sorte e o privilégio de poder me agarrar ao pouco que me resta e me relacionar não só com um lugar específico da África, mas com pessoas que ainda estão do lado de lá. E tenho o direito de reivindicar essa memória. Se não fizer isso, ninguém fará por mim, e temo que em mais uma geração a história da minha família seja esquecida.
Os europeus, que se dizem nascidos no berço da civilização ocidental, são conhecidos pelo esforço em preservar seu patrimônio cultural. Hoje, tirei o dia para revisitar um dos símbolos dessa cultura, o Museu do Prado. A última vez que estive lá foi em 2004, no final do intercâmbio em Manchester. Apesar dos seguranças, que me acompanharam o tempo todo e me causaram certo incômodo, o passeio foi bom. Quase quinze anos depois, revi o tríptico do Jardim das delícias terrenas de Bosco, como os espanhóis chamam Hieronymus Bosch. Essa pintura de mais de quinhentos anos é uma das minhas favoritas. Perguntei ao segurança se a obra sai do museu. Ele disse: “Claro que não; caso contrário, ninguém viria mais ao Prado”. Pouco se sabe da vida de Bosch; alguns especulam que sofria de alucinações, outros que consumia, intencional ou acidentalmente, drogas alucinógenas. Olhando de perto mais uma vez para esse trabalho complexo e rico, chamou minha atenção a presença de pessoas negras na obra. Contei uns onze homens e mulheres na parte central do tríptico. Parecem felizes, vivendo em harmonia com os demais.
Quem sabe em algum universo paralelo haja um Jardim das delícias terrenas de Bosch, uma sociedade pós-racial na qual as pessoas não sejam singularizadas pelo seu fenótipo? Ou será que o Bosco, católico fervoroso, alertava para os “perigos” da miscigenação racial, como se quisesse dizer que, no dia do Juízo Final — o terceiro ato de seu tríptico —, a humanidade vai pagar por ter tentado integrar brancos e negros? Seja como for, o colonialismo moderno, inaugurado no século de Bosch, ainda não acabou, e o racismo ainda é uma de suas expressões máximas, uma forma de organizar o mundo e de decidir sobre a vida e a morte. As consequências disso persistem na atualidade, por exemplo nas mudanças climáticas, que têm atingido de maneira desproporcional os povos não brancos, ou na vulnerabilidade das populações negras durante as pandemias, como tem sido verificado com a covid-19; na precarização do trabalho, na insegurança alimentar. A carne mais barata do mercado ainda é a carne negra, como canta a ancestral Elza Soares.