Estados Unidos da América (EUA), Tunísia, Índia, Reino Unido e, claro, o Irão. Desde muito jovem o jornalista Hooman Majd viveu em várias partes do mundo. É filho de um diplomata que representou em várias embaixadas o regime do xá Mohammad Reza Pahlavi, que governou o Irão antes da Revolução islâmica. Entre colégios privados norte-americanos e britânicos, o jovem circulava entre as elites de vários países e tinha uma vida relativamente desafogada. Mas tudo mudou quando os ayatollahs tomaram o poder.
O Irão que mal conhecera — vivera no país durante pouco tempo sucessivamente — transformou-se de um momento para o outro. O pai, que na altura era o embaixador iraniano no Japão, foi despedido. Hooman Majd estava nos Estados Unidos a estudar e, deixando de receber dinheiro dos pais, ficou quase sem nada. Teve de sobreviver nos EUA, país onde vive hoje em dia, e até chegou a ser um imigrante ilegal no país.
As conexões e uma pitada de sorte levaram-no à indústria musical, onde trabalhou de perto com músicos como Carlos Santana, U2 e a banda The Cranberries. Nas funções que desempenhava, lembra ao Observador que era um “diplomata”, ou melhor, um “ministro sem portefólio” da PolyGram, a empresa onde trabalhava e onde servia de ponte entre as exigências dos artistas e as exigências do mundo corporativo. Mas a crise que o setor atravessou com a queda abrupta da venda de CDs — e a democratização da Internet — levaram-no a outras carreiras: à de jornalista e escritor.
Foi enquanto jornalista que Hooman Majd redescobriu o Irão. Após 32 anos sem ter estado no país onde nasceu, o cidadão norte-americano e iraniano voltou às ruas de Teerão. E criou uma extensa rede de contactos, colaborando com as autoridades do país e trabalhando para o canal de televisão NBC News. No seu novo livro de memórias — Minister Without Portfolio: Memoir of a Reluctant Exile (Ministro Sem Portefólio: Memórias de um Exílio Relutante, sem edição em português) —, o jornalista recorda o seu percurso da vida: desde ser filho de um diplomata do regime do xá até entrevistar os Presidentes da República Islâmica.
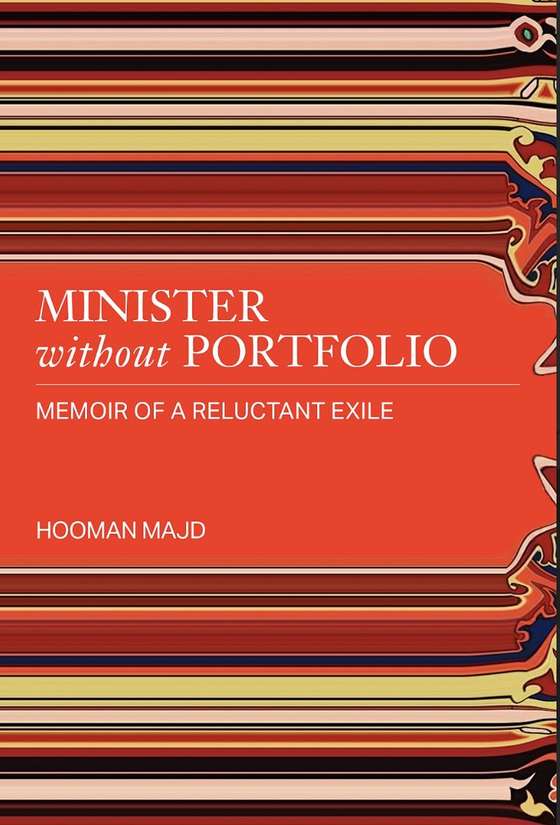
No livro, aborda o sentimento de nunca pertencer a lado nenhum, de não ter nenhum sítio para chamar de casa. Pode explicar melhor como esse sentimento influenciou a sua vida?
Penso que muitos emigrantes têm a mesma sensação, ainda que de formas diferentes. A emigração é um processo de séculos de pessoas a andar de um lado para o outro e, especialmente no novo mundo, com a América e a América do Sul, os emigrantes vieram para criar uma nova vida e tornaram-se cidadãos e parte desse mundo. Houve sempre um elemento de deslocação. A diferença é que, no século XX, os países vivenciaram grandes convulsões políticas e há mais refugiados políticos do que emigrantes por motivos económicos. Tornou-se mais predominante esse sentimento de “Onde é que a minha casa?” O meu caso é que fui criado de forma muito particular. Fui sempre criado fora do Irão. Mas, de certa forma, como tinha dois pais iranianos, sentia que era iraniano, apesar de não viver no país. Era algo único relativamente aos meus pais — os meus pais não tinham uma base no Irão, ao contrário de muitas famílias. Eles não vieram da aristocracia, onde todos tinham uma casa em Teerão. Nós nem sequer tínhamos uma casa em Teerão.
O seu pai era diplomata durante os tempos do xá Mohammad Reza Pahlavi e andava sempre a saltitar de lugar para lugar. No meio desse processo e dessas mudanças de casa, sentia-se iraniano?
Tinha essa identidade muito forte como iraniano, mas também andava em escolas norte-americanas e tinha de jurar lealdade à bandeira dos Estados Unidos, algo que na altura era normal. Mas sabia que não era norte-americano. Os amigos eram norte-americanos, mas eu não era. E também havia essa sensação de que, ao ser-se emigrante, não se tem um lugar a que se possa chamar casa. Se alguém me pergunta, por exemplo, de onde sou, posso dizer que sou de Nova Iorque, mas não é bem verdade, mesmo tendo passado metade da minha vida na cidade de Nova Iorque e mais de metade da minha vida nos Estados Unidos. E quando digo que sou do Irão, a pessoa que está a colocar a questão não tem ideia de que tipo de pessoa sou. Existe essa confusão, que vai sempre existir.
Durante a infância, passou muito tempo em vários sítios — Tunísia, Reino Unido, Estados Unidos. Como é que isso o influencia hoje em dia?
A influência é que posso viver em qualquer lugar e sobrevivo. Ao estar exposto a tantas culturas diferentes — não vou dizer que estou acostumado a cada uma delas, porque era uma criança —, adapto-me facilmente a diferentes ambientes. Acho que viajar se torna mais fácil e torna-se mais fácil relacionar-me em vários contextos. Vou dar um pequeno exemplo. Vivi na Índia quando era muito pequeno e não voltei ao país durante muitos anos. Até que fui convidado para uma conferência e voei para Nova Deli. E não só comi tudo sem ficar doente (o que é algo extraordinário para alguém que não tinha ido à Índia em 50 anos), como a atmosfera, os cheiros, entrar no táxi, andar de um lado para o outro… Foi algo familiar de uma forma estranha. Não tem muito sentido, porque não tenho memórias vividas da Índia, mas existe uma familiaridade. Outro exemplo que posso dar é que, quando comecei a ir para a Jamaica, relacionei-me muito rapidamente com o povo jamaicano. Não digo a classe alta jamaicana, com a qual normalmente me relacionava. Mas com as pessoas em bairros mais pobres em Kingston… Senti-me confortável.
