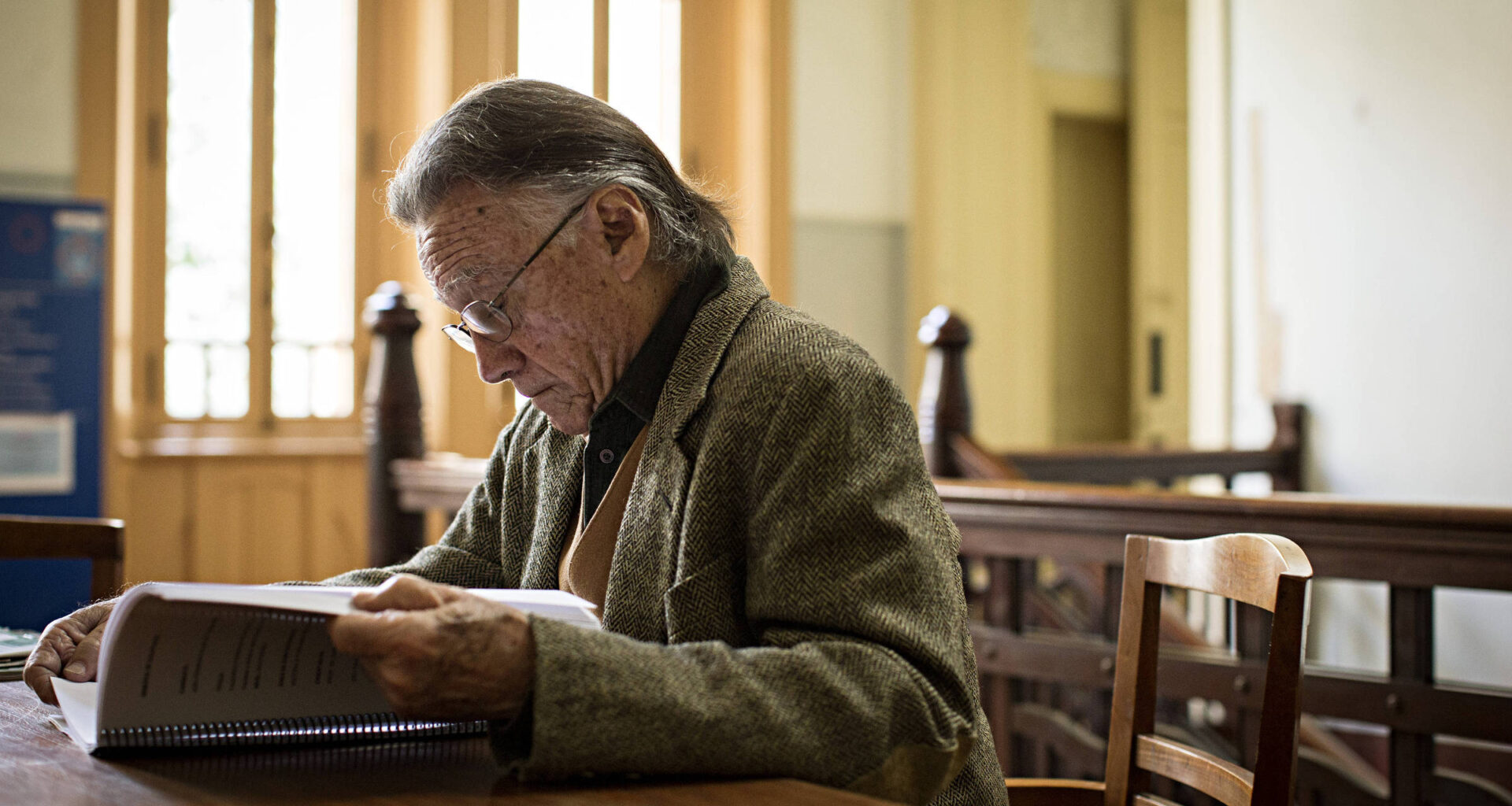O título do livro do professor Carlos Lemos, “Cozinhas, etc.”, provocou embaraço para livreiros e desavisados. Às vezes, a obra estava nas prateleiras de gastronomia, ou enganava decoradores em busca de orientação para o projeto do espaço gourmet.
O título disfarçava uma abordagem oposta ao consumismo burguês. Escreveu ele: “interessa é compreender melhor a casa popular, aquela construída pelo próprio morador”.
O livro foi um divisor de águas na maneira de abordar a história da arquitetura no Brasil. Lemos, que morreu nesta quarta, foi um dos que primeiro olhou para a vida privada no interior da moradia popular, que é raiz para a compreensão de uma tipologia das mais básicas na profissão —o projeto da casa.
Examinando a produção de Lemos, vale destacar sua estima pelo vernáculo. “Vernáculo” como próprio do país e da região e como o cultivo do idioma. O “Dicionário de Arquitetura Brasileira”, publicado em 1972 em parceria com Eduardo Corona, sistematizou um vocabulário próprio e específico para o Brasil.
Lemos foi uma voz ouvida e respeitada por seus escritos. Esta dimensão intelectual eclipsou o projetista de arquitetura, reconhecido mais por sua participação nos projetos de Oscar Niemeyer em São Paulo e menos por sua produção solo, basicamente de casas, pouquíssimo conhecida.
Mas como se sentiria um jovem arquiteto hoje, se de repente, aos 27 anos, fosse convidado para dirigir a filial do escritório de um arquiteto do “jet set” mundial? Em 1952, Niemeyer já era uma celebridade internacional, antes da consagração definitiva com Brasília.
Tão próximo ao mestre, com carinho, tão distante da sua arquitetura. Ao mirar sua obra solo, nem parece que Lemos esteve à frente do desenvolvimento dos projeto do edifício Copan e do parque Ibirapuera.
A obra arquitetônica solo de Lemos é de uma incrível discrição. Talvez uma boa parte dos arquitetos tenha ouvido falar da Praia Vermelha em Ubatuba, conhecida como a “praia dos arquitetos”, ou o condomínio de intelectuais em Ibiúna, onde Fernando Henrique Cardoso tinha uma casa. Decerto poucos sabem que os projetos de urbanização são de Lemos.
Como arquiteto autônomo, trabalhou com projetos de restauro ou realizações novas, como o ateliê-casa de Aldemir Martins, ou a residência para o alfaiate Bruno Minelli, obras que poderiam ser classificadas como brutalistas. Mas suas casas em Ibiúna eram composições a partir de materiais contemporâneos combinados com elementos reciclados de demolição, rompendo, mas convivendo em sua produção com o cânone dito brutalista.
Em 1982, o pernambucano Acácio Gil Borsói, respondendo à pergunta “qual a sua opinião quanto aos rumos que a arquitetura brasileira tomou nesses últimos anos?”, registrou: “no Centro-Sul, duas correntes se destacam: uma brutalista, verdadeiros ‘bunkers’ de concreto, e outra saudosista de um pré-colonial iniciado com o emprego de materiais de demolição”.
Para a mesma pergunta, o carioca Alfredo Britto advertia: “reações ingênuas e perigosas começaram a surgir em diversos pontos do país. Uma arquitetura de citações e vínculos emotivos com a herança portuguesa do período colonial, apoiada no reaproveitamento de materiais corriqueiros de demolição.”
Ao longo dos anos 1980 todas as casas desenhadas por Lucio Costa estavam no espírito do que Britto criticava. Nos anos 1990, Acácio Gil Borsoi projetou o ateliê de Roberto Burle Marx, um patchwork de estrutura metálica combinado com material de demolição. Uma prática que o paisagista já adotava em seu jardim, comprando restos de granito lavrado das destruições de imóveis antigos no Rio de Janeiro.
Carlos Lemos, Lucio Costa, Burle Marx e Acácio Gil Borsoi contribuem para uma vertente pouco examinada na arquitetura brasileira. Creio que o filósofo Sérgio Paulo Rouanet, em “As Razões do Iluminismo”, nos ajuda a compreender o fenômeno: “nada mais historicista que a modernidade. Essa tendência de ‘citar’ o passado não é pós-moderna, como corresponde ao que a modernidade tem de mais inalienavelmente seu”.