Por ALESSANDRO PINZANI & WALQUIRIA LEÃO REGO*
Introdução dos autores ao livro recém-publicado
“Escrever sobre este tópico adquire o potencial para envolver parcialmente o leitor na confusão moral e no tormento intelectual do sofrimento como experiência vivida” (Iain Wilkinson).
“Quero que falem os que sempre foram marginalizados, os “surdos-mudos”, os que sobreviveram ao grande genocídio, como falariam em uma verdadeira democracia. É o mundo dos vencidos que me abre à esperança, que me enche de uma raiva jovem, que me empurra à luta contra a sociedade errada de hoje” (Nuto Revelli).
1.
As razões para a escrita deste livro podem ser encontradas nas palavras de Iain Wilkinson e de Nuto Revelli, que aparecem como epígrafe desta introdução. Assim como procedemos em nosso livro Vozes do Bolsa Família, quisemos dar voz aos sem-vozes, às pessoas emudecidas ou não ouvidas pelos políticos, pela opinião pública e até mesmo por uma parcela relevante de cientistas sociais.
Como Nuto Revelli, ouvimos os marginalizados, “os vencidos”, que sempre ficaram às margens da história brasileira, do progresso econômico, civil e jurídico, que, conquanto de forma precária e com graves retrocessos, tentou se instalar no país desde a sua independência. O fato de uma parcela majoritária da população brasileira ter ficado quase completamente excluída das vantagens de tal progresso ou de tê-las recebido apenas parcial e descontinuamente dá mostras do caráter social do sofrimento que tentaremos descrever neste livro.
Fomos movidos, como Nuto Revelli, pela raiva suscitada por uma sociedade que condena as pessoas que entrevistamos a uma vida de sofrimento socialmente evitável. Esperamos que um pouco desta raiva surja nas leitoras e nos leitores depois de terminarem a leitura deste livro, talvez junto com a confusão moral e o tormento intelectual mencionados por Wilkinson, que foram os sentimentos que nos acompanharam constantemente durante a sua redação.
Não compartilhamos da ideia, profundamente errada, a nosso ver, de que cientistas ou filósofos sociais devem manter neutralidade diante dos fatos por eles analisados. Esta suposta neutralidade é um mito desmontado há décadas por diversos autores – inclusive de diferentes posicionamentos políticos –, como Berlin, Adorno e Mills. Não há nada de axiologicamente neutro na escolha do que deve contar como fato social, isto é, na seleção dos fatos que são considerados problemáticos ou merecedores de uma análise, e das categorias intelectuais a serem utilizadas em tal análise.
Quando decidimos contar fragmentos da história de vida das pessoas aqui entrevistadas, moveu-nos a convicção de que o seu sofrimento tem suas causas na estrutura da sociedade brasileira e, principalmente, na maneira em que renda e riqueza são distribuídas neste país, na ausência e inércia histórica do Estado e de outras instituições públicas, na indiferença da parcela mais poderosa da população brasileira, isto é, das classes médias e altas, que determinam a agenda política e das quais provém a quase totalidade dos políticos e dos funcionários públicos que poderiam e deveriam tentar mudar a vida dos brasileiros em situação de pobreza.
Estas causas ficarão explícitas em algumas das entrevistas, mas em geral permanecem em segundo plano e quase sempre passam despercebidas pelas pessoas entrevistadas, e frequentemente até mesmo por aqueles que se ocupam de questões de pobreza, em particular pelos cientistas sociais e filósofos que pouco se interessam pelo contexto social, histórico e econômico no qual surge a pobreza e pensam poder descrevê-la (e até mesmo sugerir soluções para ela) a partir de um vazio contextual, que os torna cegos para as verdadeiras causas e responsabilidades do problema que dizem querer entender e resolver.
2.
Em nossa pesquisa anterior, constatamos como políticas públicas podem levar a uma redução do sofrimento social, mais especificamente no contexto de um programa assistencial relativamente limitado como o Bolsa Família. De fato, os resultados mostraram que aquilo que aos olhos de muitos pode parecer uma melhoria mínima na vida material de uma família em situação de pobreza impacta grandemente a vida das pessoas envolvidas.
É a diferença entre passar fome e ter comida garantida, entre viver na angústia de não conseguir colocar comida no prato para a família e saber que os filhos terão a possibilidade de uma nutrição adequada, entre uma vida dominada pela privação dos bens mais elementares e pela incapacidade de satisfazer as necessidades mais básicas e uma vida minimamente autônoma.
As diferentes formas de sofrimento social analisadas neste livro são também o resultado do desmonte das políticas sociais verificado no Brasil sob os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, que cancelaram programas que ajudavam milhões de famílias a não passar fome e até sede, como veremos acerca do programa de construção de cisternas.
Com essas considerações deixamos clara nossa posição teórica e política – sim, política, pois, como não existe neutralidade axiológica quando se analisam os fatos sociais, tampouco existe neutralidade política (que não é a mesma coisa que neutralidade partidária, naturalmente).
Este assunto tem se tornado cada vez mais importante, chegando a abranger as temáticas da descolonização epistêmica e da necessidade de ouvir a voz dos subalternos e das vítimas do sofrimento social – temáticas que são relevantes também para a nossa pesquisa. O debate, contudo, é mais antigo, como já observamos, e remonta, pelo menos, à década de 1960. Além dos autores mencionados anteriormente, cabe lembrar, neste contexto, também Howard Becker.
Em um texto clássico, o sociólogo estadunidense afirma que os cientistas sociais não podem permanecer neutros, mas têm que tomar partido. O que torna isso inevitável é algo que se encontra “firmemente baseado na estrutura social” e nas relações hierárquicas internas a uma sociedade.
Para Howard Becker, “a perspectiva do grupo subordinado” normalmente é considerada menos confiável que a perspectiva dos grupos que ele denomina, em termos puramente descritivos, de “superordinados” (superordinate) e que, usualmente, são representados “pelos funcionários e pelas autoridades profissionais de alguma instituição importante”, como, por exemplo, funcionários de um ministério ou pesquisadores (quer na universidade, quer em instituições como o IPEA).
Como grupos superordinados podem ser definidos também as elites sociais, políticas, econômicas e a mídia, que, quase sempre, apresenta a realidade conforme a perspectiva de tais grupos. A mídia assume um papel importante na criação daquilo que Howard Becker chama de “hierarquia de credibilidade”, pela qual “os membros do grupo social superior têm o direito de definir como é que as coisas realmente estão”.
Cientistas sociais críticos tendem, ao contrário, a questionar a hierarquia e a ordem social estabelecida. Os que os acusam de tomarem partido e, portanto, de serem enviesados, esquecem ou não se dão conta de que eles mesmos estão tomando partido, ao aceitar a verdade “oficial” e a considerar os grupos superordinados como sendo mais confiáveis e competentes dos subordinados, aos quais, pelo contrário, os estudos críticos tentam dar voz.
Em outras palavras, não há uma posição neutra entre as perspectivas dos grupos sociais e, como afirma Becker, isso significa que “não existe uma posição a partir da qual se possa realizar uma pesquisa sociológica que não seja enviesada num sentido ou no outro”. Assim, somos forçados sempre a observar uma questão a partir do ponto de vista de alguém – em nosso caso, o ponto de vista das pessoas entrevistadas (e, na hora de comentar as entrevistas, o nosso próprio ponto de vista).
3.
Por isso, consideramos que nossa postura se insere na longa tradição da Teoria Crítica de cunho frankfurtiano. O que distingue o pesquisador social crítico daquele “tradicional”, para usar a clássica distinção de Max Horkheimer (1983), é que o primeiro toma o partido dos subordinados e questiona a verdade “hierárquica” apresentada pelos superordinados. Em nosso caso, isso significa, primeira e primariamente, recusar a visão tradicional e até mesmo oficial, governativa dos “pobres” e de seu “estilo de vida”, deixando que as próprias pessoas que vivem em situação de pobreza falem dessas questões.
Este último ponto não é tão óbvio como pode parecer. Como afirma José Cezar de Castro Rocha: “As implicações éticas de falar em nome dos que sofreram, em vez de fornecer-lhes condições de contarem as suas próprias histórias, é um dilema ético que tem se tornado cada vez mais claro”. A investigação social da pobreza enfrenta um dilema: é obrigada a tomar como fonte de conhecimento os depoimentos de indivíduos cuja confiabilidade epistêmica tende frequentemente a questionar ou mesmo a negar em nome do suposto privilégio epistêmico do cientista social.
Este último está ciente do fato inevitável de que as pessoas entrevistadas não dão testemunhos a partir do ponto de vista objetivo de um observador imparcial, mas se referem à sua experiência subjetiva, isto é, à maneira como elas experimentam sua situação e a interpretam.
Se se tratar de um cientista social “tradicional”, acabará ou não considerando confiáveis os testemunhos dessas pessoas (tornando, assim, inútil o fato de ouvi-las) ou incluindo-as em sua análise não como fontes de informação, mas como objetos de pesquisa: ocupar-se-á da maneira em que elas veem sua situação sem se interrogar sobre o estatuto epistêmico de tal visão.
Se perceber uma contradição entre a experiência relatada pelos entrevistados e a explicação que dão de sua situação, limitar-se-á a constatar que os “sujeitos” (melhor seria dizer: os objetos) de sua pesquisa se envolvem em contradições, sem se perguntar sobre as razões disso. Buscará, em suma, reproduzir as vozes das pessoas em situação de pobreza de forma “neutra”, isto é, sem interesse algum em entender verdadeiramente o ponto de vista de quem fala.
Poderia dizer de si, como o escritor Christopher Isherwood (1985), “eu sou uma câmera” ou, neste caso, melhor seria dizer: “eu sou um gravador”, preocupado unicamente em registrar dados destinados a permanecer mudos e mortos, incapazes de ajudar a entender a realidade social que deveriam, supostamente, descrever e, possivelmente, criticar. Trata-se de uma posição intelectualmente ingênua e politicamente pusilânime.
Cientistas ou filósofo sociais críticos assumem outra perspectiva. Ao constatarem as mencionadas contradições, percebem que os sujeitos, cuja voz estão ouvindo, estão adotando um ponto de vista que reflete a visão socialmente dominante sobre a pobreza e, em última análise, o ponto de vista dos superordinados.
Durante nossas pesquisas de campo, para este livro e para o Vozes do Bolsa Família, ficamos intrigados e, frequentemente, perplexos com a discrepância entre, por um lado, a maneira na qual as pessoas entrevistadas falavam sobre suas dificuldades, dando voz ao seu sofrimento, e, por outro lado, o modo como tendiam a explicar sua situação, muitas vezes culpando-se por ela.
Estávamos diante daquilo que chamaremos de um sofrimento de segunda ordem (ver Capítulo 1), isto é, diante da incapacidade de entender a natureza social e estrutural de sua pobreza e, com isso, de buscar soluções para a sua situação, isto é, de buscar remédios para o seu sofrimento de primeira ordem.
Nossa pesquisa abrange um amplo leque de temáticas. Em nossas entrevistas acabamos atingindo profundas e variadas camadas de sofrimento, trazendo à tona múltiplos aspectos e epifenômenos de vida “sofrida”. O resultado de tal trabalho não pode não espelhar essa complexidade e variedade de assuntos.
Portanto, o presente livro assume diferentes tonalidades e perspectivas. É como uma pintura na qual certos objetos ou certas formas se sobressaem enquanto outros permanecem no fundo ou na penumbra. Há temáticas que perpassam todas as entrevistas e, portanto, todo o livro, voltando regularmente em momentos diferentes.
Alguns temas recebem um tratamento mais extenso e aprofundado do que outros, que, em si, mereceriam, pelo menos, igual consideração, mas que decidimos deixar em segundo plano ou tratar de forma mais rápida. Todas essas repetições e omissões, o ir e vir de algumas ideias, a reiteração de certas considerações, são o fruto de escolhas intencionais, não de uma incapacidade de organizar o texto. Pedimos a compreensão das leitoras e dos leitores.
Após essas palavras, deveria ficar claro também que não tivemos a pretensão de realizar uma pesquisa no estilo da chamada “história de vida”. Oferecemos, em lugar disso, fragmentos biográficos que são relevantes aos olhos das próprias pessoas entrevistadas e que elas consideraram importante relatar. São, então, “estórias de vida”, inevitavelmente parciais, inevitavelmente lacunosas, inevitavelmente tendenciosas.
Nossos comentários obviamente não pretendem julgar sua plausibilidade ou verdade, mas tão somente apontar para o que estes relatos revelam da vida das pessoas, inclusive no que permanece não dito e que, às vezes, não pode não permanecer não dito, pois, se as pessoas entrevistadas o dissessem, sua própria identidade pessoal, construída e mantida ao longo da vida com esforços doloridos, poderia desmoronar.
4.
Nos primeiros capítulos do livro, nos quais apresentamos as bases teóricas da pesquisa, voltaremos a discutir essa questão, bem como a questão da descolonização epistêmica, mobilizando várias categorias teóricas, além da mencionada ideia de sofrimento de segunda ordem: reificação, opressão epistêmica, alienação estrutural.
Primariamente, porém, teremos de tratar de algumas especificidades da investigação acerca do sofrimento social (Capítulo 1), em particular no que diz respeito aos limites de uma pesquisa empírica como a nossa, centrada na necessidade de dar voz aos envolvidos, mas consciente dos riscos apresentados por tal escolha.
Em seguida, exporemos o que deve ser entendido aqui por sofrimento social, pois este é um conceito ambíguo, utilizado com diferentes significados em diferentes áreas do conhecimento. Estabeleceremos relações entre este conceito e outros como o de alienação e de reificação e esboçaremos, num excurso histórico, uma história do conceito de sofrimento social e de seus usos políticos (Capítulo 2).
No terceiro capítulo, faremos menção à dimensão eminentemente política da pobreza e apresentaremos algumas soluções que foram adotadas em outros países, na forma de um excurso histórico sobre a criação do Estado de bem-estar social na Suécia.
O quarto capítulo apresenta um breve apanhado histórico sobre a luta por justiça social no sertão nordestino e sobre a memória histórica de tais lutas, quer em nível coletivo, quer em nível individual. Essa primeira parte constitui uma espécie de diálogo com várias tradições interpretativas e com várias abordagens teóricas para os temas tratados. Não pretende reconstruir o estado da arte de tais debates, mas simplesmente registrar a sua existência e fornecer às leitoras e aos leitores algumas pistas, inclusive bibliográficas.
Como no caso de Vozes do Bolsa Família, essa parte teórica (com seus excursos históricos) é importante para entender nossos comentários às entrevistas, mas pode ser lida em um momento posterior pelas leitoras e pelos leitores impacientes que prefiram ouvir antes a voz das pessoas entrevistadas e que, para tanto, podem ir diretamente para a segunda parte.
Esta última, que compreende os capítulos de 5 a 10, apresenta seis estórias de vida. Nós as consideramos vidas exemplares no sentido de que, de certo modo, são típicas dos membros de grupos sociais relevantes da sociedade brasileira: pobres, mulheres, negros, moradores da zona rural que vivem de agricultura de subsistência sob condições duríssimas.
Ao mesmo tempo, não temos a pretensão de considerá-las paradigmáticas, se com isso se entende que todos os membros dos mencionados grupos sociais vivem inevitavelmente esse tipo de vida. Tampouco temos a pretensão de apresentar todas as possíveis formas de sofrimento social que podem afetar as vidas das pessoas que pertencem a tais grupos.
Não pretendemos oferecer uma fenomenologia do sofrimento social no Brasil, nem sequer no caso mais restrito das mulheres pobres do sertão. Nossa intenção foi antes a de entender como se manifesta o sofrimento social e como é possível identificar, ao menos, algumas das suas causas sociais mais profundas.
Desse ponto de vista, poderíamos ter-nos ocupado do sofrimento social de pessoas de classe média, em particular quando esse sofrimento se manifesta psiquicamente sob a forma de depressões, neuroses etc. Não faltam excelentes análises desse tipo, diferentemente do que acontece com o sofrimento das classes mais pobres da sociedade brasileira.
Registre-se, porém, que não somos psicólogos, e, portanto, não pretendemos analisar o sofrimento das pessoas entrevistadas do ponto de vista psicológico, mas sob um prisma social (essa distinção será esclarecida no Capítulo1).
O método escolhido foi, como em Vozes do Bolsa Família, o método qualitativo: realizamos longas entrevistas e voltamos várias vezes a falar com as mesmas pessoas, quando possível (não conseguimos isso com Níobe). A única exceção é a entrevista com dona Edineide, que, contudo, nos parece interessante relatar, apesar dos evidentes problemas metodológicos: as leitoras e os leitores julgarão que valor lhe atribuir.
5.
Cabem aqui algumas breves considerações sobre o que significou pesquisar o tema do sofrimento social em uma conjuntura social, política e ideológica marcada pela sua imensa intensificação.
A pesquisa de campo e a escrita do livro sofreram interrupções devido à pandemia da Covid-19 e à devastação de vidas por ela causada, que poderia ter sido evitada se as sociedades não tivessem sido anteriormente depauperadas de seus valores democráticos e de suas estruturas públicas, sobretudo aquelas voltadas aos cuidados da população. O caso brasileiro notabilizou-se pela extrema crueldade social com que o governo geriu a tragédia sanitária.
A configuração política que caracterizava o país naquele momento magnificou o sofrimento das pessoas. Medo, dor e morte foram experiências cotidianas. Ninguém deixou de ser atingido de alguma forma por um desses três elementos. Os governantes brasileiros, de modo geral, naturalizavam a ocorrência da tragédia lembrando a história das antigas e modernas epidemias.
A pandemia era de certa forma apresentada como destino da humanidade, sem dizer, contudo, que semelhante destino e semelhante devastação possuíam relações estreitas com as políticas de demolição das estruturas do Estado, da saúde pública, da pesquisa científica, enfim, das conquistas sociais e políticas de prevenção e de tratamento profilático de doenças coletivas.
No caso brasileiro, tentar naturalizar a tragédia foi o cínico caminho encontrado no nível discursivo para justificar a inoperante crueldade do governo ou até mesmo sua adoção de métodos não científicos e danosos. Afora isso tudo, diante das ruínas estatais o ataque epidêmico encontrou populações muito mais empobrecidas e vulnerabilizadas por anos de desmonte das políticas públicas, de desemprego e precarização dos trabalhos e das vidas das grandes maiorias sociais.
Também é importante relembrar que, de qualquer maneira, o mundo ocidental há mais de 40 anos vem destruindo as estruturas públicas sob a égide normativa das ideologias antiestatais, para as quais o mal maior está no Estado, cujas atividades deveriam, portanto, ser reduzidas ou mesmo eliminadas.
A demonização do Estado e de suas funções públicas constituiu um verdadeiro sistema de crenças. Era ele o vampiro das virtudes individuais da prudência, do empenho pessoal, do esforço dos indivíduos. O mito do mercado que se autorregularia devido à sua inerente racionalidade tornou-se um mantra propagado aos quatro ventos, segundo o qual o mundo é um campo infinitamente aberto aos que possuem talento, força e coragem para vencer as injunções da vida. Desse modo, diante do surgimento de uma pandemia, subitamente, o Estado e seus agentes se viram completamente desarmados para enfrentar o nefasto vírus.
Semelhante lógica possui seu modelo explicativo para a pobreza e para a miséria. Segundo o discurso dominante, produzido pelos superordinados, elas são o produto da incúria, da ignorância, da preguiça e da baixa racionalidade das suas próprias vítimas. Diante de tal conformação social, cultural e política, o aumento imenso da pobreza, da extrema pobreza, e, consequentemente, do sofrimento socialmente evitável aparece aos olhos do mundo como uma fatalidade inevitável.
No caso das pessoas em situação de pobreza aparecia mais uma vez como revelação e como sintoma da sua renitente irresponsabilidade e incompetência. Frases tais como “nunca vi tanto vagabundo rodando o mundo como estou vendo agora nas ruas das cidades grandes” eram ouvidas cotidianamente. Isso tudo, no caso brasileiro, era legitimado pelo discurso governamental dominante entre 2016 e 2022 de que o Estado nada tinha de fazer para reduzir os sofrimentos da população.
O resto dos acontecimentos todos nós conhecemos. Durante a pandemia, mais de 400 mil mortes, entre as oficiais 700 mil, poderiam ter sido evitadas. Mortes que suscitaram no então presidente como única
reação as frases “E daí?” e “Eu não sou coveiro”. Foi assim nosso abismo de maldade, o coração de trevas de nosso país.
6.
Gostaríamos de registrar nossos agradecimentos a todas as pessoas que tornaram possível nossa pesquisa – em primeiro lugar, àquelas que aceitaram ser entrevistadas e nos contar suas histórias, que abriram as portas de suas casas e de suas almas para dois desconhecidos – em várias ocasiões, mais de uma vez, quando voltamos a falar com elas em diferentes momentos. Esperamos ter conseguido deixar suas vozes falarem por elas, sem distorções. Os nomes das pessoas entrevistadas foram modificados no livro, como é de praxe, e, portanto, não podemos lhes agradecer aqui nominalmente.
Em segundo lugar, agradecemos às e aos colegas do Crato pelo apoio logístico e pelas esclarecedoras conversas, em particular à professora Zuleide Fernandes de Queiroz e ao professor Francisco do O’ de Lima Júnior, bem como ao cineasta e pesquisador Rosemberg Cariry pelo intercâmbio epistolar e pelos textos que nos enviou, os quais nos ajudaram a entender melhor a história da região.
Agradecemos ao seu Léudo por nos ter acompanhado em nossas andanças pelo Cariri e pelo Catolé. Um agradecimento pela cooperação prática e intelectual a Lucas Batista e Evânia Reich. Agradecemos aos nossos cônjuges Rubem Murilo Leão Rego e Gisa Aver pela paciência e parceria demonstradas nestes anos de pesquisa. Um agradecimento especial dirigimos a Fernando Coelho pela cuidadosa revisão do texto. Finalmente, agradecemos aos colegas e estudantes com as quais e com os quais discutimos partes do livro, em particular as mais teóricas.
Uma última observação sobre o título do livro. Fátima, uma das mulheres entrevistadas, ao contar como ela e as irmãs brincavam escondidas dos pais, que, por sua vez, pensavam que estivessem cuidando das cabras, usou a expressão “nós roubava tempo”. Na realidade, não eram essas crianças que roubavam tempo ao trabalho e à dureza de sua situação, mas foi esta última que roubou a infância delas.
De modo mais geral, a pobreza as privou de uma vida decente. No termo escolhido para descrever a situação emerge em toda a sua aspereza a oposição entre vida e mera sobrevivência: a menina Fátima roubava tempo à luta pela sobrevivência para poder ter um momento de vida. O tempo da vida “normal” tinha que ser roubado ao tempo dedicado à luta para sobreviver. O livro é dedicado a todas as pessoas que tiveram e ainda têm que enfrentar essa luta.
*Alessandro Pinzani é professor de filosofia na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Autor, entre outros livros, de Jürgen Habermas (Artmed).
*Walquiria Leão Rego é professora titular de Teoria social na Unicamp. Autora, entre outros livros, de Em busca do socialismo democrático (Editora da Unicamp).
Referência
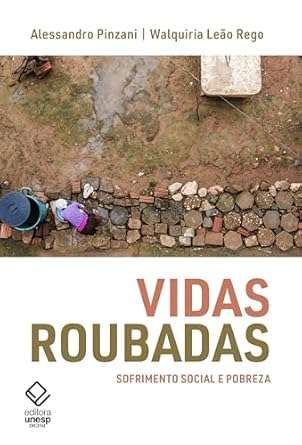
Alessandro Pinzani & Walquiria Leão Rego. Vidas roubadas: sofrimento social e pobreza. São Paulo, Unesp, 2025, 272. [https://amzn.to/4mvu0lw]
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA


