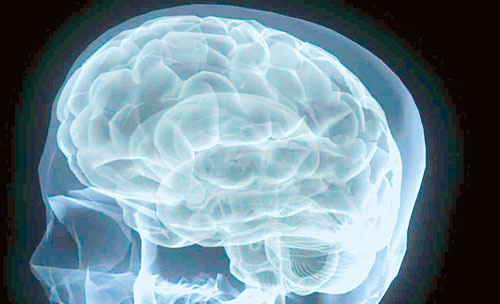Pesquisadores da Universidade de Stanford e outras instituições estão desenvolvendo uma abordagem terapêutica que pode abrir uma nova fronteira no tratamento de condições neurológicas. A técnica consiste em substituir as células imunológicas do cérebro, conhecidas como microglia, para combater doenças que vão de distúrbios genéticos raros até o Alzheimer.
Resultados recentes mostraram que a estratégia pode ser eficaz, mas o caminho para sua aplicação em larga escala ainda enfrenta um obstáculo significativo. “Esta abordagem é muito promissora”, afirma Pasqualina Colella, pesquisadora de terapia genética da Escola de Medicina da Universidade de Stanford, em declaração à revista Nature. “Mas a ressalva é a toxicidade do procedimento.”
O que é a microglia?
Essas células são o sistema de defesa residente do cérebro, atuando como uma equipe de manutenção e segurança. Elas são responsáveis por eliminar invasores, limpar células danificadas e substâncias nocivas, além de proteger os neurônios durante eventos como convulsões e acidentes vasculares cerebrais. Durante o desenvolvimento cerebral, elas também ajudam a “podar” conexões neuronais desnecessárias, otimizando a arquitetura neural.
“Microglia realizam muitas funções importantes”, explica Chris Bennett, psiquiatra que estuda essas células no Hospital Infantil da Filadélfia, à Nature. “Então, não é surpreendente que estejam envolvidas na patogênese de muitas doenças.”
Quando a microglia não funciona corretamente, seja por mutações genéticas ou como parte do processo de envelhecimento, ela pode contribuir para o avanço de doenças como Alzheimer e Parkinson, aponta Bo Peng, neurocientista da Universidade Fudan, em Xangai.
Substituir a microglia disfuncional, no entanto, é um desafio complexo. Diferente de outras células do sistema imune, elas residem quase exclusivamente no sistema nervoso central e se renovam por conta própria. Tratamentos como o transplante de medula óssea, embora já utilizados para algumas doenças raras como a adrenoleucodistrofia, apresentam resultados inconsistentes, substituindo apenas uma pequena parte das células cerebrais, segundo Marco Prinz, neuropatologista da Universidade de Freiburg, na Alemanha, em análise para a Nature.
Avanço concreto
O avanço significativo veio de um estudo recente conduzido pela equipe de Peng. Os pesquisadores utilizaram um transplante de medula óssea para substituir a microglia defeituosa em pacientes com uma doença cerebral fatal rara, conhecida como CAMP (microgliopatia associada ao CSF1R).
Os resultados, publicados em julho na revista Nature, foram encorajadores. Em um pequeno ensaio clínico com oito pacientes, nenhum dos que receberam o tratamento apresentou declínio em suas habilidades motoras ou cognitivas durante os dois anos de acompanhamento. Em contrapartida, os indivíduos do grupo controle, que não passaram pelo procedimento, sofreram deterioração em ambas as funções.
Segundo Bennett, o sucesso pode estar ligado à natureza da própria doença. Pacientes com CAMP produzem poucas microglias, o que pode ter criado um ambiente mais receptivo para que as novas células transplantadas se estabelecessem no cérebro.
Principal obstáculo
A etapa mais crítica e arriscada do processo é justamente “abrir espaço” para as novas células. Para que o transplante funcione, os médicos precisam primeiro eliminar a maior quantidade possível da microglia já existente no cérebro do paciente.
Este passo exige o uso de quimioterapia ou radioterapia em altas doses. Ambos os tratamentos são agressivos, deixando o paciente vulnerável a infecções e aumentando o risco de desenvolver câncer a longo prazo. Devido a esses perigos, Colella explica que, atualmente, a substituição de microglia é um procedimento tóxico demais para ser considerado, exceto em doenças graves e de progressão rápida como a CAMP, onde os potenciais benefícios superam os riscos.
Enquanto a universidade continua a acompanhar os resultados, a pesquisa representa uma prova de conceito fundamental. A técnica firma-se como uma esperança futura para pacientes com Alzheimer e outras condições neurodegenerativas, mas sua aplicação dependerá de um novo avanço: encontrar uma forma de superar a barreira da toxicidade.