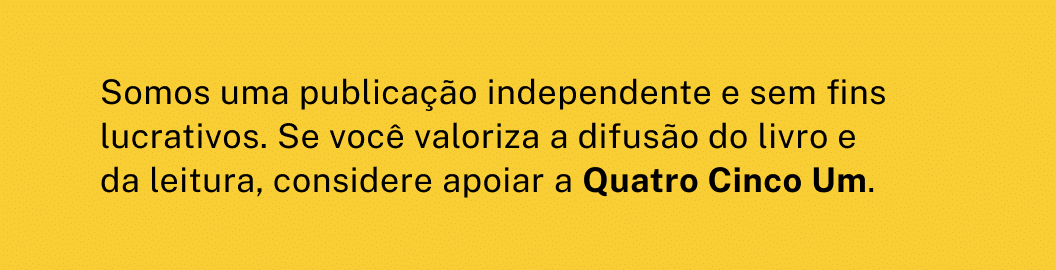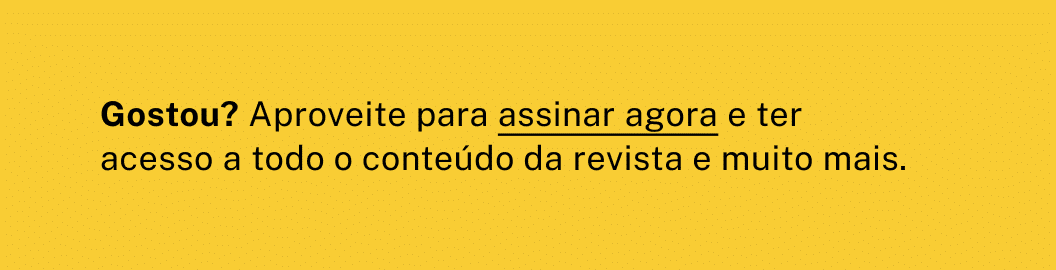A sensação ao terminar de ler Banho de lua, de Yanick Lahens, é a de que estamos diante de uma história de utopias. Ou talvez não seja bem isso. Sensação é, na verdade, um modo de dizer. É o que sentimos quando um vento frio sopra nosso rosto quente: o arrepio é imediato e, logo em seguida, se dissipa. Vivi a narrativa de Yanick Lahens como quem ganha um susto. Histórias que nos detêm, nos prendem na cadeira, nos deixam alheios a tudo, horas a fio, são as que mais assustam. Ou melhor, não só assustam, como nos comovem e nos direcionam a digressões profundas — sobre cultura, seres humanos, países e, ainda mais, suas desigualdades.
Banho de lua se integra ao enredo de uma nação destroçada pela ganância e pelo medo. O romance é nítido como um espelho que reflete, de forma nua e crua, a realidade vivida por duas famílias historicamente rivais: os Lafleur e os Mésidor. A primeira, formada por camponeses simples que vivem do suor diuturno, da labuta do pescado e da colheita da roça; a segunda, claramente poderosa, formada por despóticos donos de terras, latifundiários doentios que dominam tudo na base da corrupção política e da violência.
Essas duas famílias, com seus ciclos geracionais, percorrem o romance de Lahens de forma surpreendente, atadas a um realismo que aproxima a ficção, em seu estado de elevação, à própria história do Haiti, onde a narrativa se passa — um país forjado em conflitos sanguinários, assassinatos, rivalidades e guerras sem fim.
A forma loquaz com que a autora remexe no passado haitiano nos diz muito sobre seu ativismo
Ao escrever Banho de lua pela ótica do crime e da corrupção, Lahens traça um painel preciso de um ponto de vista concêntrico. Seu alicerce é a saga utópica da jovem Olmèse Dorival, integrante da família rural, em constante luta pela sobrevivência. Em contraponto, há o poderio do senhor de terras Tertulien Mésidor, perpetrador de desmandos sedento por poder, cuja personalidade é enraizada no passado familiar forjado no domínio arbitrário, na matança e na submissão.
O país dos personagens tem correlação direta com a nação verdadeiramente distópica que, desde sua origem, entre o final do século 18 e o início do 19, vive entre rupturas coloniais e arrebatamentos consecutivos. De um lado, a forte marca do pertencimento, para além da ancestralidade espremida pela religião, misto de catolicismo e africanidade, com o vudu de permeio; e de outro, a colonização europeia. Duas dolorosas feridas abertas, que teimam em não cicatrizar e que ainda sangram.
A forma loquaz com que Yanick Lahens remexe no passado do Haiti, considerado de “violenta beleza”, nos diz muito sobre sua trajetória e seu ativismo enquanto negra e intelectual, ganhadora em 2014 — justamente por Banho de lua — do prêmio Femina, uma espécie de Goncourt com júri exclusivamente feminino.
Imersão
Educada na França, onde se graduou em literatura comparada na tradicional Universidade Sorbonne, a autora retornou a Porto Príncipe, seu território de nascença, aos 25 anos, em 1978, para repensar e lecionar sobre os escombros herdados do período da escravidão. Nessa conjuntura, fundou a Associação dos Escritores Haitianos, que molda o espírito militante de sua escrita e mantém o projeto “Rota da Escravatura” — cujos encontros e debates procuram remover as camadas do atraso cultural e econômico caribenho.
Mesmo pelo viés da destruição e do massacre, é possível enxergar na narrativa a conexão de beleza e poesia, de leveza e de acúmulo cultural. O romance também pode ser entendido como pequeno manual de aprendizados — tanto pelos rituais das divindades do vudu, que cada vez mais se sincroniza com a religião católica, quanto pela preservação dos falares crioulos, originados do embate linguístico dos idiomas de matriz africana com o francês do colonizador.
Mais do que isso, Banho de lua é uma história que nos anestesia — ou melhor, nos causa nan dòmi (doce sonolência, em crioulo haitiano). Aos solavancos, entramos e saímos dela com uma ideia para “além daquilo que éramos capazes de inventar”. O romance não diz respeito apenas a uma pura e simples fabulação, termo que se emprega aqui com conotação oposta à sua raiz etimológica.
Narradora concisa, habilidosa no traquejo linguístico e na criação de tramas seguras e convincentes, Yanick Lahens oportunamente nos conecta a uma “história de tumultos e de eventos ordinários. Às vezes, de fúria e fome. Por momentos, de corpos que exultam e encantam. Por outros, de sangue e silêncio”, como professa o livro.
Talvez venha daí o que nos leva a imergir na narrativa, num mergulho indelevelmente sem volta para dentro de uma obra que nos emociona e alimenta a ponto de nos condicionar a “comer a própria fome”. Quase assumindo o lugar da autora, tomamos nas nossas mãos o destino das personagens, arrogando o poder de vida e morte sobre elas.
O que Yanick Lahens escreve não é fácil de ser ingerido, mas é altamente necessário — para o Haiti, para o mundo. Os traços coloniais — marcadores da existência dos povos das Américas, sobretudo os de origem africana — estão por toda parte no continente, como um medidor de violência e atrocidades, a exemplo do que acontece no Brasil.
Sob tal perspectiva, Banho de lua se transforma no caminho do sentir do povo haitiano — e, igualmente, do nosso sentir. Os registros epidérmicos nos carregam pelo mesmo tempo de dor, de desilusão, de buscar saber quem somos e de onde viemos.
Neste particular, Yanick Lahens nos deixa algumas pistas, mas não muitas. A tradução de seu romance premiado nos permite conectar com sua diáspora, que não está muito distante da nossa.