Não se entra no sertão com medo, afirma Micheliny Verunschk. Com destemor e inventividade, a escritora revisitou um dos períodos mais sangrentos – e menos conhecidos – da história do país para avançar, com o recém-lançado romance “Depois do trovão”, em seu projeto literário: pensar o Brasil por meio de seus males de origem.
“Creio que estou o tempo todo falando/escrevendo sobre o presente, mesmo quando conto uma história do Brasil colonial”, acredita a pernambucana de Arcoverde (cidade a 250 km do Recife), vencedora dos mais importantes prêmios literários da língua portuguesa com os três livros anteriores. “Nossa Teresa: Vida e morte de uma princesa suicida” (2014), venceu o Prêmio São Paulo de Literatura; “O som do rugido da onça” (2021) levou o Jabuti de melhor romance literário e “Caminhando com os mortos” (2013) foi o ganhador do Prêmio Oceanos. Os dois últimos integram o que a crítica literária Stefania Chiarelli, professora da UFF e colaboradora do Pensar, chama de “tetralogia do mato”.
“A literatura de Micheliny Verunschk é um projeto literário consistente de uma voz decisiva no cenário da literatura contemporânea, que vem aliando com talento a capacidade de tocar questões incontornáveis do debate atual ao trabalho cuidadoso com a linguagem”, avalia Chiarelli. “Se fôssemos colocar a tetralogia em uma linha do tempo cronológica ocidental colocaríamos assim: em primeiro lugar viria o romance que concluirá essa tetralogia, em seguida “Depois do trovão”, “O som do rugido da onça” e “Caminhando com os mortos””, diz Verunschk.
“Depois do trovão” é uma ficção ambientada no interior das capitanias do Nordeste assoladas por conflitos violentos entre os colonizadores europeus e os povos nativos na segunda metade do século 17. Iniciados no Recôncavo Baiano, os conflitos se alastraram pelos sertões das capitanias do Rio Grande, Paraíba e Ceará, marcando o destino da América portuguesa e das civilizações indígenas que resistiam à expansão dos exploradores. É o que afirma o historiador Pedro Puntoni, no livro “A guerra dos bárbaros: povos indígenas e a colonização do sertão nordeste do Brasil (1650-1720).
“Na verdade, (a Guerra dos Bárbaros) mais se aproximou de uma série heterogênea de conflitos que foram o resultado de diversas situações criadas ao longo da segunda metade do século 17, no quadro das transformações do desenvolvimento do mundo colonial, do que de um movimento unificado de resistência. Estes conflitos envolveram índios, moradores, soldados, missionários e agentes da Coroa portuguesa”, explica o professor da USP na edição da Hucitec/Edusp, publicada no ano 2000.
Autor da apresentação de “Depois do trovão” (na qual contextualiza as guerras de conquista para expansão territorial e destaca a “reconstrução histórica primorosa” de Verunschk), o historiador reconhece no seu livro “certo desencantamento da historiografia por um período de nossa história tão importante, mas cujo trato com a documentação parecia muito árduo”. Puntoni cita uma frase do potiguar Luís da Câmara Cascudo que resume a visão da Guerra dos Bárbaros: “Muita confusão, muita luta, muito mistério.”
Foi a partir das lacunas, lutas e mistérios ligados aos acontecimentos ocorridos entre as guerras holandesas e a descoberta do ouro em Minas, “parente pobre” na definição do historiador Evaldo Cabral de Mello, que Verunschk ficou (ainda mais) à vontade para unir o passado e a invenção. “Quando escrevo um romance histórico, procuro a fresta de onde brota a história não contada, a possibilidade que de repente salta do documento, que racha o monumento”, diz.
Narrado em primeira pessoa por personagem de origens portuguesas e indígenas que traz “com viço os sítios do meu passado”, “Depois do trovão” apresenta um extraordinário trabalho de amálgama de fatos históricos com questões íntimas por meio de uma linguagem às vezes árdua, muitas vezes deslumbrante – e, sempre, inventiva. Uma narrativa capaz de enxergar “na guerra grande a guerra miúda” e fazer o “ajuntamento das duas, dois bois ungidos no mesmo carro”.
“O mais difícil, para mim, foi elaborar uma prosódia para esse narrador que não apenas pudesse dar conta da errância da nossa língua, que é atravessada por tantas línguas que correm como rios subterrâneos, mas da própria oralidade traduzida para a escrita”, afirma a escritora, reconhecendo o “trabalho exaustivo” de escrita, reescrita e de “ouvido”. “Mais do que qualquer outro que eu já tenha escrito, esse foi um livro escrito em voz alta”, conta Verunschk.
Quando ouviu falar pela primeira vez da Guerra dos Bárbaros? Podemos dizer que o tema a atraiu primeiro como habitante da mesma região onde aconteceu a guerra, como historiadora e, agora, como romancista ou sempre teve o desejo de criar uma narrativa ficcional nesse universo?
Tomei conhecimento da Guerra dos Bárbaros quando ainda era estudante de História, por meio de um professor e ativista pernambucano importante na minha formação, Edson Silva, e de dois livros que foram essenciais para a minha formação, ambos chamados “A Guerra dos Bárbaros”, um da Maria Idalina Pires e o outro, o livro monumental de Pedro Puntoni. Como venho de uma região de grande presença e influência indígena, esse tema se tornou importante para a compreensão que eu estava construindo de mundo. Creio que o meu interesse ficcional pela questão e temática indígena foi sendo construída desde o meu primeiro romance “Nossa Teresa – vida e morte de uma santa suicida”, que trata de outro tema, de outra perspectiva, mas cuja paisagem ficcional é fincada em território indígena. Aí é que começa o meu projeto literário de pensar o Brasil por meio de seus males de origem e é nesse recorte que livros como “Depois do trovão” e “O som do rugido da onça” se colocam.
“Contar tudo é custoso”. O que foi mais desafiador para a elaboração da linguagem de “Depois do trovão”?
Creio que o mais difícil para mim foi elaborar uma prosódia para esse narrador que não apenas pudesse dar conta da errância da nossa língua, que é atravessada por tantas línguas que correm como rios subterrâneos, mas da própria oralidade traduzida para a escrita. Porque não deixa de ser um trabalho de invenção e de tradução e, nisso, há grandes riscos de, por um lado, se tornar hermético e, de outro, caricatural. Então foi um trabalho exaustivo de escrita e reescrita e também de “ouvido” porque esse, mais que qualquer outro que eu já tenha escrito, foi um livro escrito em voz alta.
Guimarães Rosa foi uma de suas referências? O que admira especialmente na obra do mineiro? Poderia citar outros autores e/ou livros que dialogam com “Depois do trovão”?
Guimarães Rosa é como o sertão, não é? Incontornável. Claro que admiro o Rosa pela sua imensa capacidade fabulativa, pelos seus personagens marcantes, mas admiro principalmente como ao lado disso há um grande apreço em seu trabalho com a linguagem. Eu poderia falar em ouriversaria, mas prefiro a imagem do bordado para falar sobre o que o Rosa faz, e vejam, temos ali um direito e um avesso perfeitos. Alguns outros autores dialogaram também com “Depois do trovão”: dos mais recentes, Maria Valéria Rezende, com seu “Carta à rainha louca”, Alexandre Vidal Porto, com “Sodomita”, Luiz Roberto Guedes, com “O mamaluco voador” e Sônia Sant’Anna, com “Memórias de um bandeirante”. Aos mais antigos, como o “Grande Sertão: Veredas” e “Meu tio, o Iauaretê”, do Rosa, se juntam “A muralha”, de Dinah Silveira de Queiroz, e “Eisejuaz”, da argentina Sara Gallardo. Isso para falar de ficção, não é? Nos estudos históricos é uma infinidade, passando pelos citados na primeira pergunta e passando de Afonso d’Escragnolle Taunay e chegando a John Manuel Monteiro. Definitivamente não escrevi sozinha.
Como converter a pesquisa histórica em literatura?
Não sei bem se tem uma fórmula. O que procuro, quando escrevo um romance histórico, é a fresta de onde brota a história não contada, a possibilidade que de repente salta do documento, que racha o monumento. Acho que por isso a História me fascina tanto, porque ela é generosa e sempre oferece oportunidades assim.
“Ao sertão é preciso abrir de novo pela porfia dos facões”. Como foi a sua entrada no sertão (d)escrito em “Depois do trovão”? Quais as características deste sertão?
Não se entra no sertão com medo. Eu não entrei. Cresci nele e o conheço bem. No entanto, não se entra no sertão, de forma confiada demais porque ninguém o conhece totalmente. Eu quis construir o sertão pensando na dualidade da nossa formação familiar histórica. O sertão como um pai e uma mãe terríveis, mas ainda assim um pai e uma mãe. Ferozes é certo, mas com sua beleza e com o seu amor torto e possível. O sertão doce da flor do jamacaru, o sertão atroz da aba do chapéu do Estrondoso.
Dentro da chamada Tetralogia do Mato, o que representa “Depois do trovão”? Quais conexões consegue estabelecer com os dois romances anteriores, “O som do rugido da onça” e “Caminhando com os mortos”?
Se fôssemos colocar a tetralogia em uma linha do tempo cronológica ocidental colocaríamos assim: em primeiro lugar viria o romance que concluirá essa tetralogia, em seguida “Depois do trovão”, “O som do rugido da onça”, “Caminhando com os mortos”. No entanto, acredito em outra percepção e vivência do tempo, que tem mais a ver com os conceitos do tempo espiralar. Então esse passado que retorna, que faz curvas sempre para tocar o presente, que reencontra seu ponto de partida, que por sua vez é também um ponto móvel, é esse passado e esse tempo que me interessam como pessoa, como escritora. Acho que objetivamente “Depois do trovão” se conecta mais de perto com “O som do rugido da onça” não apenas pela conexão indígena, mas por algumas passagens que são retomadas, mas todos esses livros têm por linha condutora a ideia de pensar o Brasil. E eles seguem esse tempo em zigue-zague que é coletivo, sim, mas também íntimo, individual.
O que pode adiantar sobre o romance que concluirá essa tetralogia?
Estou ainda desenhando mentalmente a história que quero contar, mas posso adiantar que será ao mesmo tempo a história mais recuada no tempo, antes da colonização e que repercutirá em eventos de 2018. Já sei a história e os arcos dela. Estou estudando a forma.
A tradição brasileira, ao menos até o século 20, é de autoria branca escrevendo sobre temas indígenas e criando personagens dos povos originários. Como você se posiciona diante dessa tradição e desse desafio?
Eu tenho duas posições a respeito: a primeira delas é de que todas as histórias que compõem o Brasil nos pertencem a todos, e precisamos contar nossas histórias, nossa história; por outro lado, histórias como as dos indígenas raptados e massacrados pelo sistema colonial precisam ser contadas por outras autorias, por autores e autoras indígenas, por exemplo. Davi Kopenawa, em “A queda do céu”, diz que o branco só sonha com ele mesmo e que para que o céu se mantenha em seu lugar é preciso que o branco sonhe com os povos da floresta. Quando escrevo essas histórias quero acreditar que estou sonhando junto por um mundo mais justo, mais seguro para todos.
Quais conflitos do passado ecoam no Brasil de hoje e que a interessam como escritora? E os do tempo presente?
Creio que estou o tempo todo falando/escrevendo sobre o presente, mesmo quando conto uma história do Brasil colonial. Mas me interessam, por exemplo, o primeiro bombardeio aéreo da história do país, contra cidadãos brasileiros em Santa Cruz do Deserto, interior do Ceará, também os vários conflitos com a população cigana no interior do país e como essas coisas repercutem em políticas de estado violentas hoje, por exemplo.
“Esse é o país que temos, mas não o que merecemos ter”, você afirmou em entrevista recente à newsletter de Kátia Borges. O que é preciso fazer para se ter o país que merecemos? E a sua literatura, o que é capaz de fazer?
Acho que precisamos reconstruir esse país que vem sendo sistematicamente destruído por interesses elitistas e isso só é possível com um investimento maciço em educação e cultura. Não há progresso, ou o que seja ideia de progresso, sem um investimento nessas áreas. Com uma boa formação não apenas para estudantes, mas com requalificação e remuneração digna para professores. Fui professora da rede pública por muitos anos, sei do que estou falando. Sei também que a construção dessa educação passa por termos diversos dos que estão sendo vendidos hoje: não é a privatização do acesso e nem a militarização da sociedade que construirão o país que merecemos ter. Acho que os livros não podem mudar o mundo, mas talvez possam ajudar a mudar a mentalidade de quem o transformará.
Como consegue, num mundo tão ruidoso e cheio de estímulos à dispersão como as redes sociais, obter a imersão necessária para escrever um romance como “Depois do trovão”?
Sinceramente, não sei. Talvez o que me ajude nesse sentido é que quando estou pesquisando e escrevendo um livro fico tomada pela pesquisa e pela escrita e todo o resto fica como que fora de foco. É como se a vida real fosse a da escrita e a vida restante algo que vejo de dentro do escafandro (risos). Acordo, durmo, vou para a academia, almoço, entro no instagram, sempre com o pensamento tomado pela escrita, pelos problemas dela, pela busca de solução. Nesse lugar, a escrita, a família e os bichinhos de estimação são minha prioridade absoluta.
E a poesia? Como e quando surge na sua criação? A prosa “interrompe” a produção poética ou a alimenta? Quando planeja lançar um novo livro de poemas?
A prosa alimenta. “O movimento dos pássaros” foi escrito simultaneamente com “O som do rugido da onça”, por exemplo. Mas tenho publicado menos poesia do que gostaria. Devo ter uns três ou quatro livros inéditos na gaveta e espero publicar um deles em 2026.
Por que você afirma que a escrita a organiza?
Porque como todo mundo, tenho as minhas perturbações. E a escrita dá régua e compasso a isso. Sem ela talvez eu estivesse à deriva. (Colaborou Stefania Chiarelli)
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Trecho
“E foi o que ele mandou e fiz junto com os outros, a minha primeira grande obrigação da guerra, de ajudar a botar fogo nas palhoças e depois deixar tudo para detrás debaixo dos compungidos lamentos dos que tudo perderam e que seguiam como escravaria. Mas tudo, tudo eu nem não deixava para trás, que bem sabia, ia levando com a minha pessoa aquilo que via e vivia e fazia, como que arrastado comigo, pesando na lembrança. E entendia também que deveria eu ter uma boa estrela por estar do lado do mais forte e não com a cabeça descaída em terra, lambida pelo seu facão como aqueles cariris.”
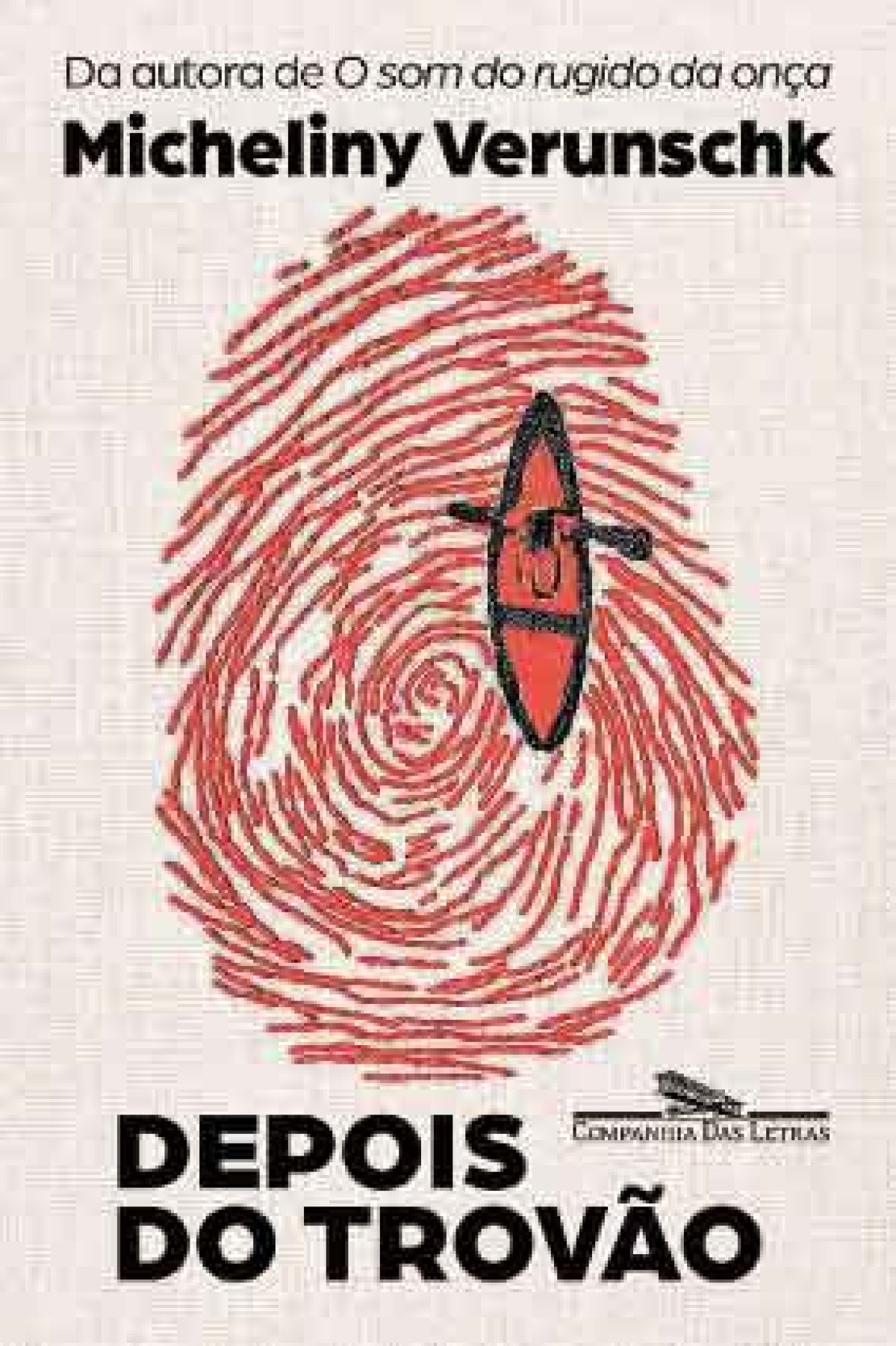
Reprodução
“Depois do trovão”
• De Micheliny Verunschk
• Companhia das Letras
• 232 páginas
• R$ 79,90
