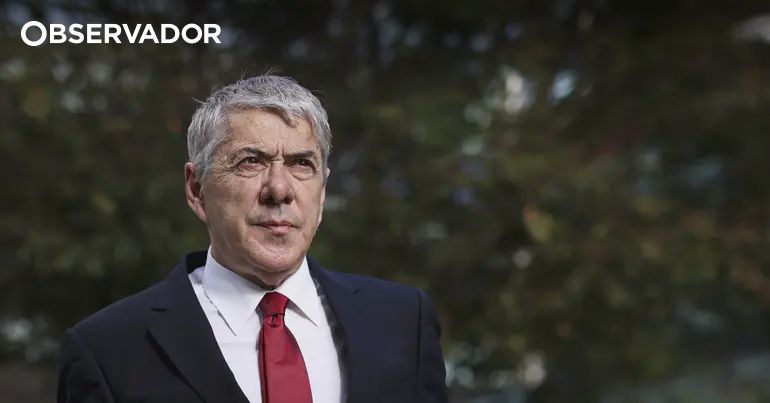Na introdução a esta “biografia” de José Sócrates, João Miguel Tavares (JMT) cita o escritor José Rentes de Carvalho: “Olhe o José Sócrates: é carismático, é mau, é estúpido. Como personagem romanesca é uma mina de ouro. Mas nenhum escritor pegou ainda nele. Nem os mais jovens. Eu faria dele um Rastignac como o de Balzac”. Há várias razões, boas e más, para isso ainda não ter acontecido. E estão quase todas neste livro, a que JMT dedicou boa parte dos últimos dez anos.
Ali em cima, a palavra biografia aparece entre aspas pelo simples facto de não haver aqui novas revelações e factos desconhecidos sobre o percurso do antigo primeiro-ministro. Aliás, esse método é explicado logo no início pelo autor que quis “limitar a […] investigação àquilo que foi publicado em jornais, revistas e livros; ao que foi ouvido nas rádios ou visto nas televisões”. O método tinha dois objetivos: surpreender o leitor com histórias que já tinham sido divulgadas mas que, entretanto, tinham caído no esquecimento, e demonstrar a tese de que “a personalidade de José Sócrates, as suas contradições e os seus métodos estiveram à vista de todos ao longo dos anos em que ele exerceu o poder”.
O primeiro objetivo é amplamente alcançado: a grande maioria dos leitores será surpreendida, pelo menos ao nível dos pormenores, por muitas das histórias aqui relatadas e enquadradas. Mas é precisamente isso que compromete o segundo objetivo e que, paradoxalmente, justifica a necessidade deste livro. Se muitos dos factos aqui compilados são surpreendentes – e se o são, isso não se deve a uma peculiar propensão nacional para a amnésia cívica – o livro fica justificado por nos oferecer, a esta distância, uma visão de conjunto que liga acontecimentos e personagens entre si.
A tese, inegavelmente tentadora, aponta para uma responsabilidade coletiva e institucional na ascensão política de Sócrates, mas ignora a dificuldade, na altura dos acontecimentos, de pegar nos fios esparsos de uma atividade política iniciada ainda nos anos 70 e ir tecendo em simultâneo uma tapeçaria coerente e reveladora. O método escolhido por JMT só é possível porque houve alguma dose de escrutínio a montante. Que esse escrutínio não tenha impedido José Sócrates de chegar ao poder e de se manter aí durante seis anos deve-se às características do homem e às circunstâncias políticas em que ele se afirmou. Dessas circunstâncias fazem certamente parte as instituições, não isentas de defeitos e de vícios, mas aqui a “debilidade institucional” é uma razão tão vaporosa quanto os célebres “problemas estruturais” do país.

▲ A capa de “José Sócrates: Ascensão”, de João Miguel Tavares (D. Quixote)
O problema maior da tese é que nos empurra para o excecionalismo de Sócrates (as suas qualidades mágicas que lhe permitiram esconder-se “debaixo dos holofotes”, como afirma JMT) e para o excecionalismo das instituições democráticas em Portugal (os seus vícios inultrapassáveis e especificamente lusitanos). Ora, o que o livro demonstra é que nem Sócrates era assim tão excecional (em ambos os sentidos da palavra), patente na afirmação de JMT de que “José Sócrates é um puro produto das estruturas partidárias da democracia portuguesa”, nem a sua ascensão se explica por uma debilidade excecional das instituições. Se as estruturas partidárias produziram políticos como José Sócrates, era natural que, mais cedo ou mais tarde, algum deles chegasse ao poder, o que atenua, de alguma forma, o impacto da constatação inicial de que Sócrates foi o primeiro político desde a instauração da República a chegar ao poder sem vir de boas famílias ou sem ter um sólido percurso académico.
Voltemos à dimensão romanesca da personagem Sócrates que é, reconheço, a grande personagem literária portuguesa dos últimos vinte e cinco anos. Uma das razões para ainda não ninguém ter feito de Sócrates o seu Eugène de Rastignac está na profusão de episódios rocambolescos e cómicos enumerados neste livro. Quem precisa de ficção quando a realidade a supera e dispensa? Dos primórdios provincianos aos esquemas autárquicos, das amizades envergonhadas aos luxos de nababo, das aventuras semi-académicas às exibições de erudição postiça, da linguagem feroz e camiliana à obsessão com a imagem, da suposta fortuna do avô do volfrâmio aos apartamentos milionários, da mãe humilde que de repente se vê administradora de offshores às tragédias inconcebíveis que se abatem sobre a família, é tudo excessivo, exagerado, uma sucessão de acontecimentos e de personalidades que nem o chamado realismo histérico seria capaz de acomodar sem soçobrar sob o peso da inverosimilhança.
A outra razão para a literatura atual não se aproveitar de Sócrates é que a literatura de há 150 anos já o fez, com mais arte e proveito. De certo modo, Sócrates já está n’A Queda dum Anjo ou n’O Conde d’Abranhos. Quando Calisto Elói, depois de descer à cidade e se aperceber que a sua indumentária não está de acordo com a moda e os novos tempos, atualiza as suas fatiotas, é José Sócrates. Quando o biógrafo de Alípio Abranhos menciona, acintosamente, a falta de vida intelectual do seu biografado na infância é impossível não pensar no que JMT escreve de Sócrates – “deseja o prestígio académico, mas não o trabalho que ele dá” – ou nas justificações do próprio Sócrates para a sua falta de dedicação aos estudos quando, ainda na década de 70, andou por Coimbra – “tive outras aprendizagens”. Quando o Conde afirma “que desde novo, fui inclinadote a agitar questões sociais”, podemos ouvir a voz de Sócrates a dizer “tive a certeza de que a engenharia não era o meu destino. É o mundo dos pormenores e eu tenho uma inteligência direcionada para o abstrato”.