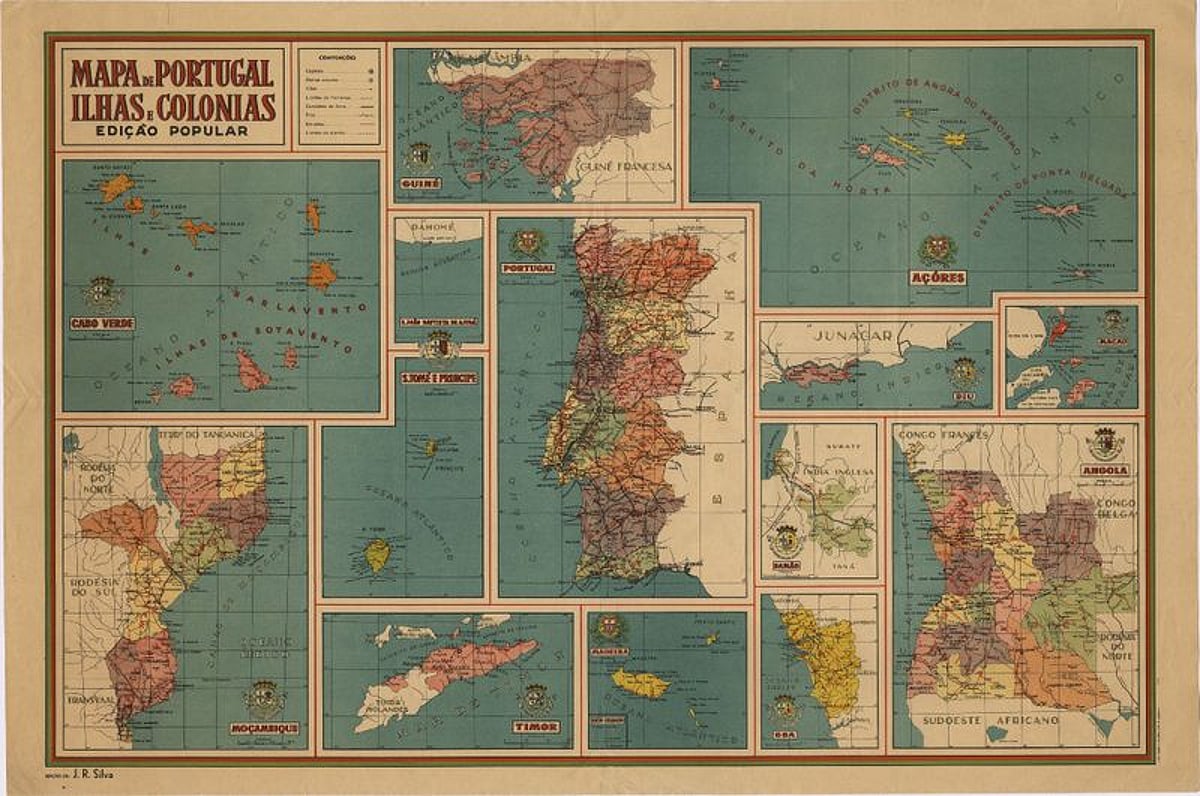A capa de Marginalizados até pode assemelhar-se à de um romance de ficção tal é a força da imagem e do título, mas não foi esse o género que a professora Agata Bloch, do Instituto de História da Academia de Ciências da Polónia, pretendeu desenvolver. O subtítulo clarifica muito rapidamente o assunto: “Negros, mulheres, ciganos, mulatas, judeus… E se fossem eles a contar a história do Império”.
Para Bloch, a escolha deste título surge de uma intenção: “Provocar o leitor e despertar a imaginação: afinal, quem poderia ser considerado marginalizado na história do Império português?” Considera que a definição deste estatuto não é simples: “Tanto poderia depender da cor da pele, do estatuto social, do lugar onde se vivia, ou até de todos esses fatores em conjunto. Quis também sublinhar a complexidade desse grupo, pois o «marginalizado» poderia ser um africano escravizado no Brasil, os cristãos-novos em Portugal, ou ainda as mulheres brancas acusadas de bruxaria e degradadas para África.”
Ou seja, estamos perante uma investigação que acrescenta outros testemunhos, desta vez de uma forma metódica e mais extensa, para cumprir o objetivo de Agata Bloch em contar a história do Império português através de uma população que não tinha direitos.
A investigadora recorda que a ideia deste trabalho nasceu de uma pergunta fundamental: “Seria possível ao marginalizado falar e ser realmente ouvido?” Foi a partir daí que começou a sua investigação: “Primeiro, entender os direitos que lhes eram atribuídos e em seguida pela forma como conseguiram usufruí-los ou como foram por eles limitados.”
A interrogação alargou-se também às “brechas que encontravam nas práticas administrativas para negociar o seu lugar. Se, por um lado, eram empurrados para as margens da sociedade ibérica e colonial por recusarem submeter-se à religião imposta pelos portugueses, por outro, existia a possibilidade de saírem dessa condição marginal, desde que abdicassem das suas tradições e adotassem a cultura ibérica como modo de vida.” Um dos caminhos para essa integração, explica, passava por vários caminhos: “Pelas mercês reais, pelo estatuto de miseráveis, pelo serviço militar e por outros recursos que alguns souberam mobilizar como argumentos para negociar a sua posição social.”
Não pode dizer que encontrar e consultar a documentação disponível referente a estas populações foi fácil, pelo contrário “foi muito exigente”. Segundo Agata Bloch, na coleção do Conselho Ultramarino, no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, encontram-se mais de 182 mil correspondências do período colonial: “No entanto, apenas uma pequena fração desse imenso volume corresponde a petições enviadas por indivíduos marginalizados. A consulta dessas fontes exigiu paciência e disciplina.” Exigiu mais confiança na seleção, como acrescenta: “Enquanto historiadora, pergunto-me muitas vezes até que ponto a história de poucos casos pode iluminar a grande história? Acredito que sim.”
Até porque é em muito através de petições e documentos pessoais dirigidos ao rei que Marginalizados pretende desmistificar a opinião de que esses grupos eram passivos: “Cada petição traz consigo a experiência de marginalizados diferentes, atravessando geografias, etnias, problemas e universos sociais diversos. Justamente por isso, esses documentos, embora raros, são de um valor extraordinário e permitem entrever múltiplas formas de viver, resistir e negociar dentro do Império português.”
A historiadora ainda vai na Introdução quando aponta que outro dos objetivos de Marginalizados era permitir ao “leitor redescobrir as vozes esquecidas da história colonial”. Daí que os vários testemunhos incluídos ao longo do livro pretendam esclarecer os leitores e deste modo fazer com que alterem a sua opinião sobre a história do Império. Refere que essa foi exatamente uma das questões fundamentais que a orientaram: “Até que ponto o olhar de um marginalizado poderia desafiar a história do Império colonial português?” Uma segunda questão impôs-se logo: “Será que uma narrativa construída a partir das camadas mais baixas poderia ser revolucionária?” Estabelecido o plano, o que Agata Bloch constatou foi que “as memórias desses grupos enriqueceram a história política e social ao introduzir experiências individuais narradas a partir do seu próprio ponto de vista”.
Ao mesmo tempo, deu outro entendimento: “Humanizaram acontecimentos de grande escala, mostrando como foram vividos por aqueles que nem sempre tiveram voz e como identificaram oportunidades para transformar as suas vidas”. Acrescenta: “Essas versões não constituem uma história paralela, nem devemos esperar que ofereçam uma visão totalmente oposta à dominante. O que fazem, contudo, é revelar dimensões menos visíveis de eventos históricos e mostrar que mesmo os marginalizados foram atores ativos na construção do Império.”
Entre os múltiplos exemplos sobre o papel ativo deste amplo leque de marginalizados sob várias formas está também o da resistência quotidiana dos escravos, muitas vezes tornando-se a maior rival das rebeliões armadas. A história esqueceu em muito os primeiros mas não ignora assim tanto os que recorreram à contestação, como mostra Agata Bloch: “As grandes lendas costumam formar-se em torno das grandes revoltas. É natural, pois as rebeliões armadas geram mais ecos, debates e controvérsias.” Dá um exemplo: “Até a antiga Gazeta de Lisboa escrevia com maior interesse sobre revoltas do que sobre as formas mais discretas e pacíficas de resistência dos marginalizados. Esta resistência não se expressava em batalhas abertas, mas em gestos mais subtis, como na procura de escrivães ou procuradores, na saída das senzalas para redigir e enviar uma petição. Era um processo mais lento, menos imediato, mas que, a longo prazo, obrigava a própria máquina burocrática a adaptar a lei portuguesa às realidades concretas em que viviam os marginalizados. Muitas dessas decisões, uma vez tomadas, passavam a aplicar-se de forma uniforme a todas as áreas sob jurisdição portuguesa.”