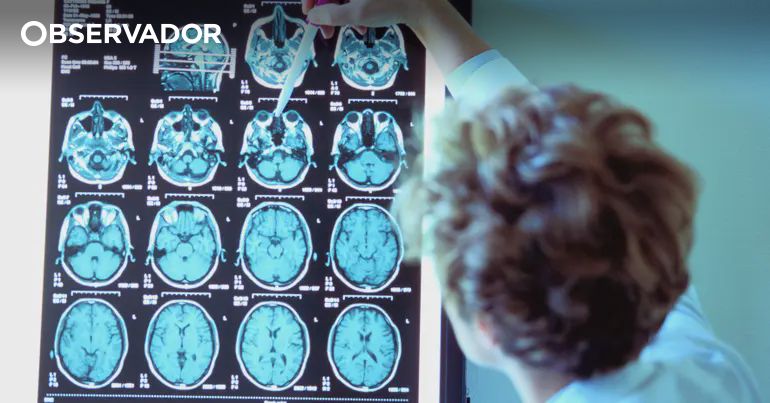O pensamento foi relativamente simples: “Ao olharmos para para os neurónios, que são as primeiras células afetadas, vamos perceber vários fatores importantes que nos permitem ver onde é que temos de tratar”. Foi com esta ideia que, há cerca de seis anos, o laboratório de Cláudia Almeida começou este projeto. Contudo, a investigadora confessa que as conclusões a que agora chegaram nem eram vistas como uma possibilidade do trabalho que se propuseram fazer.
“A minha hipótese não era esta”, admite, referindo que, dos vários projetos de investigação que já liderou ao longo da última década, “este foi o primeiro em que conseguiu encontrar uma ligação mais direta” à vertente clínica de aplicabilidade de um possível tratamento para a doença que afeta cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. “Foi um bocadinho de sorte. Não estávamos à espera”, continua a investigadora.
A grande vantagem foi precisamente o modelo utilizado. O mais comum é fazer estas abordagens diretamente em ratinhos. Contudo, o laboratório de Cláudia Almeida decidiu recorrer a modelos celulares de neurónios de ratinho, o que dava uma “maior resolução e sensibilidade” para observar os pontos de interesse mais perto e de forma mais simples. “Permitiu-nos perceber que, se calhar, os cientistas não estavam a olhar para o sítio certo”, admite a investigadora. “O cérebro é tão denso e confuso… Quando vamos a um concerto num estádio, é mais difícil encontrar alguém que conhecemos na plateia, ao contrário de quando vamos ao café da esquina, onde só lá estão cinco pessoas. A probabilidade de ver alguma coisa aumenta quando a complexidade diminui”, compara.
O primeiro momento “Eureka” apareceu quando decidiram tentar localizar a BIN1 nas sinapses, os pontos de ligação entre os neurónios que permitem a circulação de informação e têm um papel “essencial” na formação da memória. Com recurso a dois marcadores imunofluorescentes — um anti-corpo para a BIN1 e outro para uma proteína que está presente em todas as sinapses —, uma vermelha e outra verde, descobriram que o “amarelinho” resultante da sobreposição das duas moléculas se encontrava predominantemente no corpo celular do neurónio, ou “soma”. Foi aí que entrou “o amigo Google”, que indicou que as sinapses predominantes no soma eram as inibitórias e, aí, desencadeou o próximo passo da investigação: a confirmação.
Compraram um novo anti-corpo para uma proteína que estivesse exclusivamente neste tipo de sinapses e, ao realizar a experiência novamente, verificaram que a vaga de “amarelinho” era mais conclusiva. “Mesmo assim, não queríamos acreditar”, conta Cláudia Almeida, que diz que ainda foram realizar métodos de análise quantitativa de imagem — “contámos muitas células” —, para ter a certeza de que aquilo que haviam verificado era “mesmo verdade”. A equipa concluiu que sim, tendo confirmado ainda através da informação existente na literatura, cujas únicas referências eram “quase notas de rodapé”. Mas foi assim que perceberam realmente que tinham encontrado uma possível ligação.
Estabelecida a relação entre a ausência de expressão da proteína BIN1 e a diminuição de sinapses inibitórias — e o consequente aumento de atividade neuronal — foi preciso entender que outros efeitos poderia ter esta proteína nos neurónios. Com recurso a técnicas laboratoriais “state of the art”, descobriram que, quando as sinapses inibitórias estavam subrepresentadas por ação direta da falta de BIN1, a atividade das sinapses excitatórias — o outro tipo de sinapse — aumentava. “Pareciam quase estrelas cadentes, se bem que não se mexem, mas era como fogo de artifício no pratinho de cultura”, relata Cláudia Almeida. Os movimentos dos neurónios durante esta parte da investigação deram lugar à reação: “Isto é espetacular!”
A introdução do medicamento veio numa fase posterior. O Levetiracetam estimula a atividade dos neurónios, reduzindo a libertação de neurotransmissores e assumindo o papel de neuromodulador. Desta forma, consegue impedir a repetição de ataques epiléticos e reduzir convulsões. É um “xarope” que se dá também a crianças e existe em comprimido. A investigadora explica ao Observador que o efeito é imediato na primeira dose ingerida, mas que deve ser tomado com alguma regularidade para assegurar o efeito do fármaco.
Quando o experimentaram nos modelos celulares de que dispunham, viram o “efeito instantâneo”. “Vimos imediatamente a atividade do neurónio a regularizar”, continua Cláudia Almeida.