O antigo jornalista e agora escritor Nelson Nunes aborda o esgotamento e a pressa que marcam a vida moderna, revelando como o cansaço físico, emocional e existencial nos afeta. No seu último livro, mistura ciência, testemunhos e experiências pessoais para refletir sobre a sobrecarga diária e a necessidade de redefinir prioridades. Uma conversa sobre ritmo, escolhas e como recuperar tempo, atenção e bem-estar numa sociedade acelerada
Em “De onde vem este cansaço? Um manifesto de combate à era da pressa”, Nelson Nunes lança um olhar atento sobre o esgotamento e a pressa que definem a vida moderna, explorando como o cansaço físico, emocional e existencial se tornou quase inevitável. O livro mistura investigação científica, experiências pessoais e testemunhos de figuras públicas para mapear as múltiplas formas de sobrecarga que todos enfrentamos, no trabalho, em casa e até nas redes sociais.
Mais do que diagnosticar um problema, Nelson Nunes propõe uma reflexão sobre escolhas, hábitos e prioridades, convidando-nos a questionar o ritmo frenético em que vivemos. Entre a pressão da produtividade, o excesso de estímulos digitais e a necessidade de estar sempre disponíveis, o autor alerta para as consequências profundas do cansaço acumulado, que afeta não só a nossa saúde, mas também a forma como nos relacionamos com os outros, incluindo os nossos filhos, e tomamos decisões.
Numa conversa com a CNN Portugal, falou de burnout, tecnologia, tédio e da busca de equilíbrio, mas também de soluções práticas e mudanças possíveis. Nelson Nunes partilha perspetivas pessoais e profissionais, mostrando que é possível recuperar atenção, silêncio e bem-estar mesmo num mundo acelerado e reforça a importância de assumir responsabilidade sobre o próprio tempo e sobre o impacto que o nosso esgotamento tem na sociedade. Ainda há esperança, assegura. Assim “haja vontade e prioridade”.
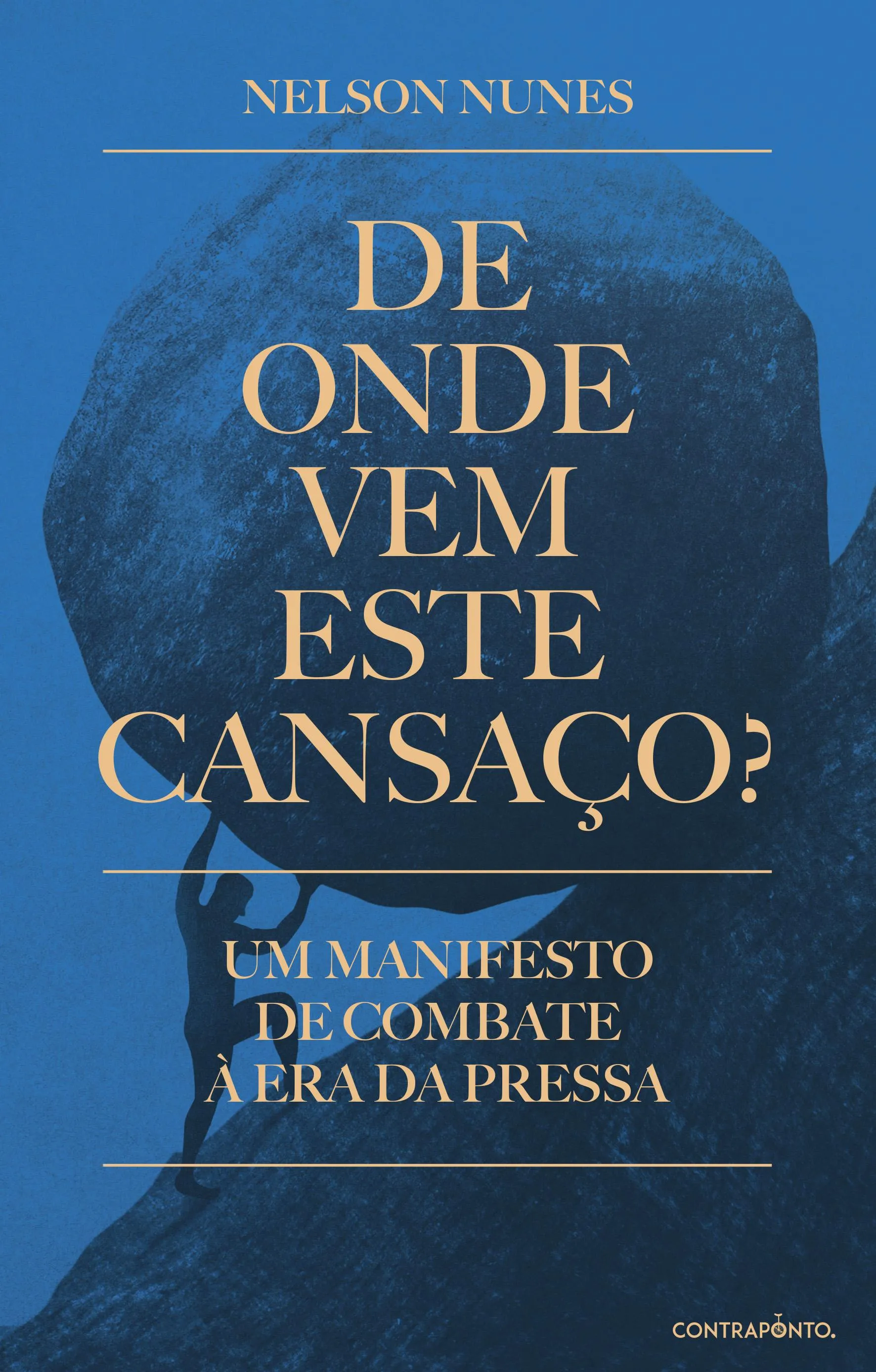
No mais recente livro, Nelson Nunes provoca a nossa reflexão sobre a vida que levamos e aquelas que são as nossas prioridades. (Foto: Divulgação)
Entrevistar jornalistas (um jornalista nunca deixa de o ser…) é sempre ingrato. Ia começar por aí… Nós, jornalistas, meios de comunicação social, não temos uma quota-parte de responsabilidade na era da pressa em que vive a atual sociedade? Nós, que andamos sempre atrás daquela história, que a queremos dar primeiro a notícia, que enviamos notificações para o leitor sentir necessidade de saber, de ver, de ouvir, de estar em todo o lado, de estar sempre ligado?
É uma excelente pergunta, que pede uma resposta com dois gumes: por um lado, é verdade que o jornalismo é, cada vez mais, um negócio. E, perante o falhanço do seu modelo, qualquer instrumento para captar a atenção da sua audiência parece ser bem acolhida. Por outro lado, não quero estar a matar o mensageiro por estar a querer fazer passar a sua mensagem, num mundo barulhento e assoberbado. Para o leitor/espectador comum, o efeito dessa inundação de informação pode ser paralisante e, por isso, é fundamental que todos nós, enquanto cidadãos consumidores de informação, saibamos construir um muro ao nosso redor e controlar o quando e o como do consumo de notícias. Este livro explica, entre outras coisas, como podemos estar informados sem nos deixarmos esmagar pela ditadura da notificação.
Este é um livro que parte de uma inquietação pessoal ou de uma observação social? Em que momento é que sentiu que era “obrigatório” escrevê-lo?
Todos os meus livros partem de uma inquietação, cada um à sua maneira. Este não foi exceção, mas o percurso foi atribulado. Inicialmente, a minha ideia era fazer uma espécie de ode aos hobbies e ao tédio, mas rapidamente me apercebi desta epidemia silenciosa de que todos padecemos. Já todos dissemos as palavras fatídicas: “estou muito cansado, ando cheio de trabalho”.
Por isso, comecei a investigar de que modo é que o cérebro pode encontrar alívio através de uma certa fronteira de circunscrição ao trabalho. Mas o funcionamento neurológico não conhece essa fronteira, apesar de nós termos construído um lugar-comum segundo o qual é possível separar trabalho do resto da vida. Não é. Daí em diante, fui-me apercebendo que a Ciência aponta toda na mesma direção: o nosso estilo de vida urbano contemporâneo desgasta-nos, em todas as suas dimensões, desde as mais evidentes às mais sub-reptícias.
O título do primeiro capítulo do seu livro é “Não estamos só nervosos – Estamos esgotados”. E a pergunta que dá título ao livro é inevitável: de onde vem este cansaço, este esgotamento? É uma pergunta retórica ou foi mesmo à procura de respostas? Já encontrou essas respostas?
As respostas estão no livro, mas posso falar delas superficialmente: o cansaço vem de uma sobrecarga constante sob a qual vivemos no quotidiano e que não está só relacionada com o trabalho. Façamos um exercício mais ou menos comum a milhões de pessoas: acordamos e, provavelmente, somos imediatamente estimulados pelo ecrã do nosso telefone. Essa luz é nociva para o funcionamento neurológico – na verdade, assim que acordamos, devemos receber luz do sol, pela sua tipologia química, e não de uma fonte artificial. Simultaneamente, o que vemos no telefone vai provavelmente ativar o nosso sistema nervoso, coisa para a qual o nosso organismo não está programado. De seguida, levantamo-nos e começamos a lutar contra o relógio: despachamo-nos, tratamos dos miúdos, metemo-nos no carro… Essa violência matutina é um saco de agressões para o qual o corpo não está preparado – pensemos no estilo de vida do Neolítico e veremos que o nosso ritmo contemporâneo é esgotante.
E ainda só cheguei à manhã: depois de enfrentarmos o barulho do trânsito, a atenção intensa que temos de prestar à condução do nosso automóvel, mais alguns momentos de nervosismo pouco saudáveis, chegamos ao trabalho. As solicitações são permanentes e também não estamos programados para viver debaixo de tal intensidade.
Se comemos qualquer coisa à pressa, ou qualquer coisa pouco saudável, esse hábito também terá impacto no bom funcionamento do organismo. Trabalhamos mais algumas horas, até corrermos contra o trânsito para recolher os miúdos, chegamos a casa e cumprimos as tarefas domésticas noutra corrida intensa contra o relógio. Quando finalmente terminamos tudo o que havia por fazer, são dez da noite e estamos estafados.
Mas há um novo sarilho que nos passa despercebido: as nossas casas estão profusamente iluminadas, e isso disrompe o nosso ciclo circadiano e a nossa relação com o sono, contribuindo ainda mais para o cansaço extremo que sentimos.
Quando tentamos adormecer, das duas uma: ou caímos estafados, ou temos dificuldade em adormecer por termos estado a olhar para estímulos saídos de ecrãs, como as Netflix ou os TikTok da vida. Um dia nesta intensidade já seria mais do que suficiente para ficarmos cansados. Agora imagine-se viver assim durante dias, semanas, meses, anos. É daí que vem este cansaço.
O cansaço de que fala no livro é mais físico, emocional, moral ou existencial?
Diria que o cansaço, pelos motivos que apresentei há pouco, começa por ser físico e emocional. Quanto mais fisicamente cansados estamos, mais irritadiços e pouco pacientes ficamos. Se este tipo de cansaço é duradouro, é verdade que acabará por tornar-se moral e existencial, a menos que o indivíduo não tenha pendor para questionar as suas decisões de vida.
Mas, inevitavelmente, com menos tempo e mais irritabilidade, acabará a ficar influenciado negativamente pelo ambiente que o circunda, tomando decisões menos lúcidas, menos informadas, com uma apetência para a frieza na relação com o outro. Ao contrário de tudo o que disse até agora, e que está cientificamente comprovado, esta é a parte da minha tese que é impossível de comprovar e que não passa de uma convicção pessoal: o nosso cansaço generalizado tem implicações políticas existenciais, uma vez que nos tornamos atomizados, preocupados apenas com a nossa roda de hamster e votamos muito mais com a fúria do que com um sentido comunitário.
Sempre fomos assim, a querer viver tudo e tudo ao mesmo tempo? Ou tornámo-nos em seres de pressa e de urgência?
Não sei se sempre fomos assim, mas estes tempos revelam um certo pendor para a acumulação de experiências e bens e também uma intolerância perante o vazio. Percebe-se, por duas vias: o vazio dói (é por isso que eventos traumáticos como a pandemia ou o apagão causaram tanta queixa e sofrimento, não sabemos bem como se vive sem nada para fazer); e também sabemos que somos uma espécie com uma pulsão pela acumulação, herança trazida da nossa codificação genética desde os tempos da Pré-História. Repare-se: quando éramos hominídeos nómadas, qualquer alimento que encontrávamos era para comer com voracidade porque não sabíamos quando seria a próxima ocasião em que teríamos a sorte de encontrar alimento. Hoje, na era da abundância, com alimentos ao dispor 24/7, a tendência para a voragem continua cá e a nossa luta passou a ser não comer conforme nos apetece. O mesmo serve para bens e experiências, para que nada nos falte no futuro. E parecemos estar a comportar-nos assim em todas as dimensões da nossa vida: no prato, nas casas, e até nas agendas.
Vivemos mesmo numa “era da pressa” ou numa era da simulação da pressa, porque ela já se entranhou em nós e, socialmente, estamos “obrigados” a viver nesse estado? Há alguma diferença?
Que vivemos numa era da pressa, não há dúvidas. Por exemplo, uma das coisas que mais ouço é “gosto muito de ler, mas não tenho tempo”. Esse “não tenho tempo” que todos ouvimos nas conversas de todos os dias, e que nós próprios já dissemos quase sem dar conta, num estranho reflexo de linguagem, é um sinal dos tempos. Isto é, temos a sensação de estar permanentemente ocupados e, por isso, sem grande tempo para acrescentar o que quer que seja à nossa agenda. Pior: estamos a fazer o mesmo às gerações seguintes, entupindo-lhes as agendas com o futebol e o ATL e o ballet e as mil festas de anos. Sabemos, por estudos psicológicos e neurológicos, que o tédio e a margem para o aborrecimento são benéficos na estruturação de sistemas neuronais de resolução de problemas, mas aquilo que eu e o leitor terão vivido na infância, de estar uma tarde inteira num quarto sem distrações, enquanto inventávamos jogos ou brincadeiras com bonecos inanimados, é um hábito que está a perder-se. E as perspetivas sobre as consequências não são animadoras.
Mas, voltando ao tema da falta de tempo, talvez a grande questão não esteja na ocupação do tempo, mas na forma como o fazemos. Porque podemos queixar-nos de não ter tempo, mas ao final de cada semana os nossos telemóveis fazem um balanço das horas diárias que passámos a olhar para os seus ecrãs e o número deixa-nos incomodados. Posto isto, retribuo a pergunta: estaremos sem tempo, ou estaremos a usá-lo mal?
Que papel tem a cultura da produtividade nesse esgotamento coletivo de que fala? Acredita que possamos estar viciados no cansaço, quase como se estar esgotado fosse um sinal de valor pessoal que queremos mostrar à sociedade?
É verdade que, num sentido laboral, se romantiza o cansaço e, em casos extremos, o burnout. Mas não me parece que a generalidade das pessoas goste de estar cansada. Creio que muitas delas só ainda não tiveram tempo (lá está) para interromper o ciclo intenso das suas vidas para entenderem o que está a causar essa exaustão e o que poderão fazer para melhorar. Este livro tenta acender algumas luzes sobre esses hábitos e dá também algumas dicas sobre o que podemos fazer (como indivíduos, nas empresas e enquanto sociedade como um todo). Acima de tudo, é um livro que promove o conhecimento e a capacitação sobre tomarmos um bocadinho as rédeas dos nossos hábitos.
“Trabalhar, descansar, desfrutar: onde desenhar as fronteiras?”. O Nelson é capaz de desenhar essas fronteiras, sem invasões de territórios? Quer contar-nos o segredo?
Muitos dos meus livros são escritos para encontrar respostas perante aquilo que me inquieta. Logo, eu também não sei exatamente como contrariar os meus hábitos. O que sei é que integrei alguns hábitos da minha investigação e sinto-me muito mais fresco desde então. Por exemplo, evito ecrãs quando me deito (nem sempre consigo) e leio um livro durante cerca de uma hora, para que não tenha uma lanterna apontada aos olhos e o sono possa instalar-se de uma forma mais natural. Tenho também uma cadeira especial em casa, junto da qual não pode estar nada a não ser uma guitarra ou um livro, mas habitualmente fico lá sem fazer nada, durante uma meia hora. Comecei a praticar ténis há cerca de seis anos e os benefícios mentais têm-se revelado muito mais importantes do que os físicos. É por isso que o ténis se tornou numa prioridade máxima na minha vida. Sem ele, a minha cabeça tende a resvalar para lugares escuros onde esteve noutras épocas.
Não sei se já faz esse exercício ou se alguma vez fez… mas se lhe dessem um dia sem emails, sem redes sociais, sem compromissos, sem nada para fazer… o que faria com ele?
Há alguns meses tive a sorte de fazer uma residência literária no Norte, e por isso tive esse luxo durante um mês. Apesar de ter acesso à internet e usar o telemóvel, a verdade é que a clareza mental que senti nessas semanas foi ímpar e muitas vezes recordo-me desses dias com saudade. Os dias que aí passei podem resumir-se como dias perfeitos: acordava, tirava um café e sentava-me a escrever durante quatro horas. Esse era o meu único compromisso comigo próprio. Depois, fazia o almoço enquanto ouvia um podcast. Durante a tarde, fazia o que me apetecesse: às vezes jogava ténis num clube ali perto, noutras lia, noutras escrevia. Senti-me aborrecido com frequência, mas abracei o sentimento e em nenhum momento senti qualquer espécie de agonia ou impaciência.
Escolheu o termo “manifesto” para incluir no título. É uma palavra com peso político. Também fala no livro da responsabilidade do poder político. O que o leva a transformar o combate ao cansaço e à pressa num ato político ou social?
Se estamos cansados, temos as defesas intelectuais em baixo. Desconfiamos menos, aceitamos com mais facilidade. Estamos mais suscetíveis. A curiosidade fica preguiçosa e o estudo de alguma coisa que nos encante é menos propícia. Logo, o cansaço tem efeitos políticos porque passamos a tomar decisões com um menor nível de lucidez, o que pode ser danoso não apenas para o indivíduo que a toma, mas para a sua família, a sua empresa, o seu bairro, o seu concelho ou o seu País.
O livro tem testemunhos de figuras públicas, desde a cultura à política. Porque fez questão de incluir no seu livro esses testemunhos? Foi difícil levar essas personalidades a expor as suas vulnerabilidades?
Acima de tudo, quis mostrar que muitos de nós têm comportamentos fugitivos perante este nosso ritmo e que até as pessoas que admiramos têm os seus mecanismos funcionais para pôr a sua alta performance a funcionar. Além disso, pareceu-me importante desromantizar a alta performance/eficácia: aquelas pessoas que vemos em permanência no auge do sucesso também têm os seus travões para desacelerar este estilo de vida. E podemos aprender com elas.
Mas diria que há entrevistados ainda mais importantes neste livro: os especialistas. São eles que mapeiam os comportamentos que, idealmente, devemos integrar nas rotinas para que as nossas vidas sejam mais significativas e memoráveis.

Nelson Nunes expõe as suas próprias fragilidades, para nos levar a refletir sobre as nossas prioridades. (Foto: Divulgação)
O próprio Nelson também acaba por expor as suas próprias vulnerabilidades. Teve algum receio ou sentiu alguma resistência em fazê-lo? Ou, pelo contrário, sentiu mesmo essa necessidade?
Costumo dizer que a vaidade e a vergonha são artifícios que só atrapalham: daqui a bocado, nenhum de nós estará neste planeta, por isso não importa ser vaidoso nem ter vergonha do que passámos. Essa regra pauta a minha abertura sobre as depressões, ansiedades e histórico de violência doméstica de que sofri: sei que a minha história pode aliviar ou ajudar alguém a libertar-se, por isso prefiro arriscar. Na pior das hipóteses, não ajudo ninguém e fica tudo na mesma. Na melhor, mudo ligeiramente a vida de alguém e essa utilidade agrada-me.
Não é uma necessidade, mas também não foi uma resistência. Parece-me importante falar do que passei, por isso falo. Além do mais, assino o livro, seria uma desfaçatez não imprimir alguma coisa pessoal no texto que escrevo.
Sente que perdemos o direito ao tédio ou ainda há espaço para o silêncio, para o vazio, para a pausa? Resumindo: ainda há esperança?
Enquanto tivermos poder de agenda, há esperança. O fator-chave aqui é a capacitação de quem se cruzar com este livro: mostrar que há uma realidade no cansaço que vai muito para lá do trabalho e que há muita coisa que é possível mudar. O mundo em que vivemos foi, em grande medida, inventado por humanos, por isso há muita coisa que podemos desfazer e fazer de uma forma nova, que nos sirva melhor. E podemos mudar enquanto indivíduos, enquanto organizações/empresas e enquanto País. Haja vontade e prioridade.
